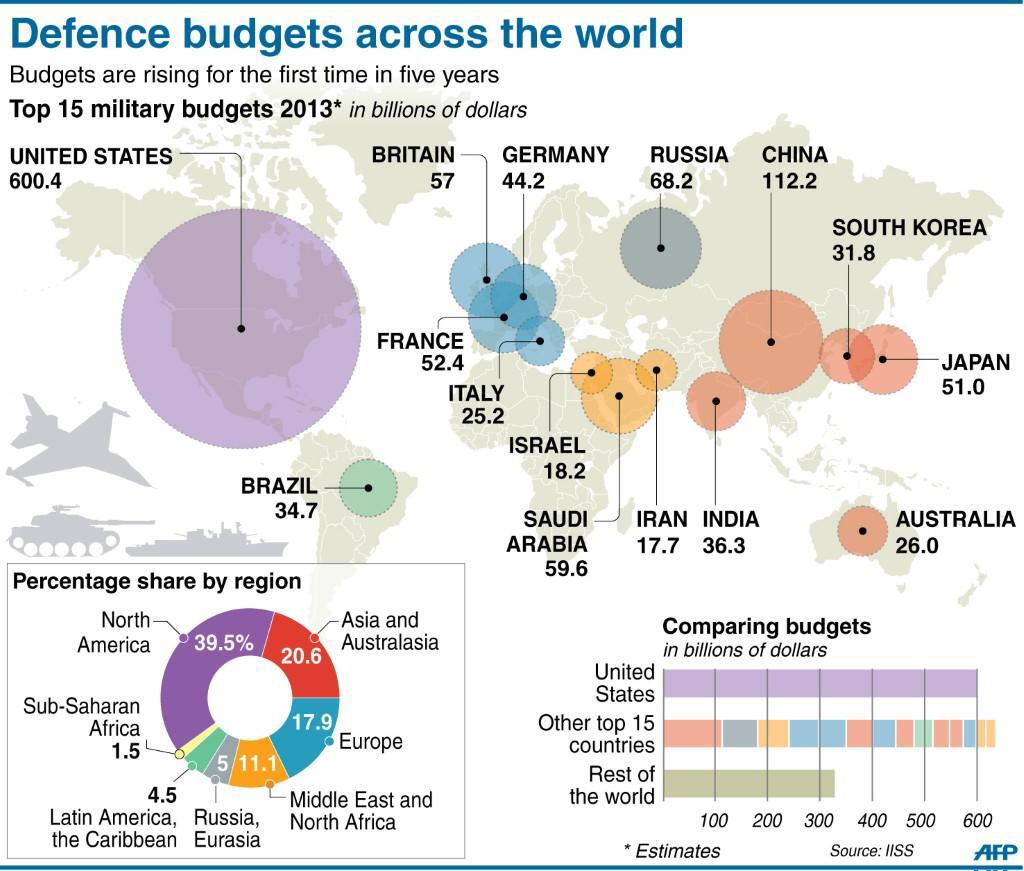Re: GEOPOLÍTICA
Enviado: Sáb Fev 01, 2014 8:32 pm
Balão de ensaio lançado. Devemos ficar atentos a essa compra de soberania...
[]´s
Por que os Estados Unidos deveriam se fundir com o Canadá
Livro defende que uma fusão entre os dois países é a melhor estratégia para crescer a economia e garantir controle sobre os recursos da região
São Paulo – Alguns anos atrás, uma enquete foi feita com os americanos para saber qual era a maior cantora viva do país e Celine Dión foi a mais votada. Só tem um problema: ela é canadense.
A anedota prova que os dois países são tão integrados que muitas vezes é difícil saber onde fica a fronteira.
"Merger of The Century" ("A Fusão do Século"), um livro da jornalista canadense Diane Francis publicado no final do ano passado, defende que os dois países devem é eliminar a fronteira de uma vez por todas.
A “fusão do século” daria origem a uma nova nação com mais território que a América do Sul, PIB maior que o do Japão, China, Alemanha e França combinados e mais petróleo e água do que qualquer outro país.
Argumentos
Os EUA tem um aparato militar insuperável e uma forte cultura de risco e empreendedorismo, duas carências do vizinho de cima, que tem por sua vez um setor financeiro bem regulado e um excelente sistema de saúde – justamente dois calcanhares de aquiles dos americanos.
E mais: os canadenses estão sentados sobre uma enorme quantidade de recursos naturais que não são explorados porque o país é como “um fundo gigantesco administrado por burocratas com aversão ao risco e que não geram receitas, só perdas”, segundo Diane.
89% da terra canadense pertence ao governo. Nos Estados Unidos, a taxa é de 40%. Colocar estes recursos em movimento daria ao novo país a independência energética e uma fonte importante de exportações.
A demografia também ajuda: enquanto o Canadá envelhece rapidamente, os EUA permanecem com uma quantidade saudável de jovens.
A fusão também seria um gol estratégico. De acordo com Diane, Rússia e China estão lentamente comprando participações em empresas canadenses e aumentando sua influência sobre os recursos naturais do Ártico - que não é legalmente de ninguém e deve ficar cada vez mais importante.
Em 2012, a China adquiriu uma companhia de petróleo canadense por US$ 15 bilhões, apesar de muita oposição. Foi a maior aquisição internacional já feita pelos chineses.
O novo país teria mais força para se defender destas ofensivas e exercer controle na região.
História
Apesar de ter sido mencionada em privado por primeiros-ministros canadenses em 1919 e depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia da fusão nunca foi formalmente levantada, apesar de ser uma possibilidade concreta: a Constituição americana permite a incorporação de novos territórios com a aprovação do Congresso.
Diane cita como exemplo a reunificação da Alemanha depois da queda do muro de Berlim e desenha um modelo de fusão inspirado no mundo corporativo.
Considerando que o Canadá teria só 10% da população do novo país mas faria uma contribuição desproporcional de território e recursos, ela propõe que cada canadense tenha direito a quase meio milhão de dólares em compensações com a finalização do acordo.
Realidade
Uma pesquisa de 2010 mostrou que 48% dos americanos apoiam uma fusão, contra 20% dos canadenses, que tem 40% de neutros ou indecisos.
A fusão não seria uma boa notícia para o Partido Republicano americano, que teria dificuldade de sobreviver em um eleitorado com a influência canadense, mais simpática a um estado generoso e socialmente liberal.
Riscos existem, mas Diane acredita que “o maior erro de concepção sobre manter o status quo é a crença de que o status quo pode ser mantido”.
Para ela, uma mera unificação de moedas já seria uma mão na roda para o comércio (os americanos compram 75% das exportações canadenses).
“Se eu acredito que uma fusão vai acontecer? Eu honestamente não sei. Mas deveria.”, decreta.
Fonte: Exame
http://www.teckler.com/pt/FelipeRibeiro ... om--271098