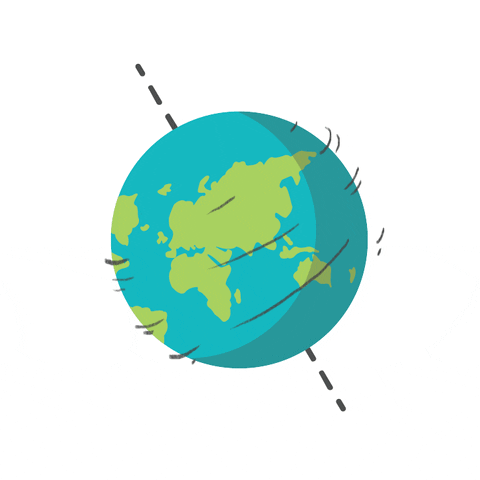GEOPOLÍTICA
Moderador: Conselho de Moderação
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
Re: GEOPOLÍTICA
Leiam esta coluna.....
Folha de São Paulo
Assunto: Opinião
Título: 1b O papel das armas / coluna
Data: 20/05/2008
Crédito: Clóvis Rossi
Clóvis Rossi
SÃO PAULO - O presidente peruano Alan García propôs, durante a recém-realizada Cúpula de Lima, que os países latino-americanos proibissem a compra e a venda de armas. Refere-se, é claro, a equipamentos militares.
A delegação brasileira recebeu a idéia com mau humor, mas a proposta é corretíssima, ainda que jamais venha a ser aplicada. Correta porque, se se compram armas para confrontos entre vizinhos, é um crime imperdoável. A América Latina precisa de integração, não de conflitos.
Se for o caso de comprar armas para enfrentar exércitos extra-sub-continente, a quantidade de recursos necessários está completamente fora do alcance até dos mais ricos países da região.
É escandalosamente óbvio que há pelo menos mil prioridades à frente do armamentismo. Mas a proposta é inaplicável, porque os países latino-americanos ainda não resolveram o dilema existencial de suas Forças Armadas. De um lado, perderam, em quase todos os países, o "inimigo interno" (o supostamente onipresente comunismo internacional), que serviu de pretexto para ditaduras e repressões selvagens.
O inimigo externo, por sua vez, ou é o vizinho, com o qual ninguém em seu juízo perfeito imagina um conflito armado, ou são exércitos de países mais distantes, imensamente superiores em armamento e tecnologia, o que torna qualquer conflito um autêntico suicídio.
Basta lembrar o massacre que foi a guerra da Argentina contra o Reino Unido pelas Malvinas, em 1982.
Nesse cenário, outra boa proposta é a do futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, de usar as Forças Armadas para proteger a Amazônia. Faz mais sentido, por exemplo, do que manter uma imensa sede para o 6º Distrito Naval na Vila Mariana, em São Paulo, a 60 quilômetros do mar. Marinha longe do mar faz sentido?
Folha de São Paulo
Assunto: Opinião
Título: 1b O papel das armas / coluna
Data: 20/05/2008
Crédito: Clóvis Rossi
Clóvis Rossi
SÃO PAULO - O presidente peruano Alan García propôs, durante a recém-realizada Cúpula de Lima, que os países latino-americanos proibissem a compra e a venda de armas. Refere-se, é claro, a equipamentos militares.
A delegação brasileira recebeu a idéia com mau humor, mas a proposta é corretíssima, ainda que jamais venha a ser aplicada. Correta porque, se se compram armas para confrontos entre vizinhos, é um crime imperdoável. A América Latina precisa de integração, não de conflitos.
Se for o caso de comprar armas para enfrentar exércitos extra-sub-continente, a quantidade de recursos necessários está completamente fora do alcance até dos mais ricos países da região.
É escandalosamente óbvio que há pelo menos mil prioridades à frente do armamentismo. Mas a proposta é inaplicável, porque os países latino-americanos ainda não resolveram o dilema existencial de suas Forças Armadas. De um lado, perderam, em quase todos os países, o "inimigo interno" (o supostamente onipresente comunismo internacional), que serviu de pretexto para ditaduras e repressões selvagens.
O inimigo externo, por sua vez, ou é o vizinho, com o qual ninguém em seu juízo perfeito imagina um conflito armado, ou são exércitos de países mais distantes, imensamente superiores em armamento e tecnologia, o que torna qualquer conflito um autêntico suicídio.
Basta lembrar o massacre que foi a guerra da Argentina contra o Reino Unido pelas Malvinas, em 1982.
Nesse cenário, outra boa proposta é a do futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, de usar as Forças Armadas para proteger a Amazônia. Faz mais sentido, por exemplo, do que manter uma imensa sede para o 6º Distrito Naval na Vila Mariana, em São Paulo, a 60 quilômetros do mar. Marinha longe do mar faz sentido?
- EDSON
- Sênior

- Mensagens: 7303
- Registrado em: Sex Fev 16, 2007 4:12 pm
- Localização: CURITIBA/PR
- Agradeceu: 65 vezes
- Agradeceram: 335 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
O naufrágio do centro do mundo
– Os EUA entre a recessão e o colapso
por Jorge Beinstein [*]
A recessão instalou-se nos Estados Unidos. Os subsídios alimentares que em 2006 abrangiam uns 26,5 milhões de pessoas em 2007 subiram para 28 milhões, nível nunca atingido desde os anos 1960. Recentemente a OCDE reviu em baixa suas previsões de crescimento para a economia estado-unidense assinalando-lhe uma expansão igual a zero para o primeiro semestre deste ano. Pelo seu lado, o FMI acaba de fazer um prognóstico ainda mais grave pois inclui períodos de crescimento negativo. Estes organismos vinham bombardeando os meios de comunicação (que por sua vez bombardeavam o planeta) com prognósticos optimistas baseados na suposta fortaleza da economia norte-americana. Sustentavam que não haveria recessão e que o pior poderia ser um crescimento baixo, rapidamente ultrapassado por uma nova expansão... Se agora admitem a recessão é porque algo muito pior está no horizonte.
Sob a aparência de várias crises convergentes desenvolve-se perante os nossos olhos o final daquilo que deveríamos encarar como o primeiro capítulo do declínio do império norte-americano (aproximadamente 2001-2007) e o começo de um processo turbulento desencadeado pelo salto qualitativo de tendências negativas que se foram desenvolvendo ao longo de períodos de diferentes durações.
De qualquer forma, as más notícias financeiras, energéticas e militares não parecem aplacar os delírios messiânicos de Washington, antes pelo contrário. É como se Bush e seus falcões não fossem deixar a Casa Branca dentro de uns poucos meses. Continuam a ameaçar governos que não se submetem aos seus caprichos, insinuam novas guerras e afirmam querer prolongar indefinidamente as ocupações do Iraque e do Afeganistão, inclusive um ataque devastador contra o Irão é ainda possível. De vez em quando emerge uma nova onda de rumores bélicos a apontar o Irão – em geral com origem em declarações ou transpirados de altos funcionários do governo. Um ataque contra esse país teria consequências imediatas catastróficas para a economia mundial, o preço do petróleo dispararia para as nuvens, o sistema financeiro global passaria a uma situação caótica e a recessão imperial converter-se-ia em ultra recessão encabeçada por um dólar em queda livre. Talvez alguns estrategas do Pentágono e do círculo de falcões mais radicalizados estejam a imaginar uma grande fogueira mundial purificadora da qual emergiria vitoriosa a nação escolhida por Deus: os Estado Unidos da América. Trata-se de uma loucura, mas faz parte da configuração psicológica de uma parte importante da elite dominante, atravessada por uma corrente letal que combina virtualismo, omnipotência, desespero e fúria perante uma realidade a cada dia menos dócil.
Nos grandes centros de decisão económica actualmente domina a incerteza que se vai convertendo em pânico. O fantasma do colapso começa a mostrar o seu rosto. Enquanto isso todas as autoridades económicas norte-americanas injectam maciçamente liquidez no mercado, concedem subsídios fiscais e improvisam salvações custosas das instituições financeiras em bancarrota tentando suavizar a recessão, sabendo que desse modo aceleram a inflação e queda do dólar. Sua margem de manobras é muito pequena, a mistura de inflação e recessão torna completamente ineficazes seus instrumentos de intervenção.
A palavra "colapso" foi aparecendo com intensidade crescente desde fins do ano passado em entrevistas e artigos jornalísticos, muitas vezes combinadas com outras expressões não menos terríveis, em alguns casos adoptando seu aspecto mais popular (derrube, morte, queda catastrófica) e em outros sua forma rigorosa, ou seja, como sucessão irreversível de graves deteriorações sistémicas, como decadência geral. Paul Craig Roberts (que no passado foi membro da equipe directiva do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e editor do Wall Street Journal ) publicou em 20 de Março um texto intitulado "O colapso da potência americana" onde descreve o traços decisivos do declínio integral dos Estados Unidos [1] . A 27 de Março The Economist intitulava "Esperando o Armagedão" um artigo acerca da maré irresistível de bancarrotas empresariais norte-americanas. A 14 de Março The Intelligencer ostentava o título "Peritos internacionais prognosticam o colapso da economia norte-americana" num artigo em que recolhia as opiniões, dentre outros, de Bernard Connelly do banco AIG e de Martin Wolf, colunista do Financial Times.
A 3 de Abril Peter Morici, numa nota aparecida em Counterpunch, assinalava que "é impossível negar que a economia (estado-unidense) entrou numa recessão cuja profundidade e duração são imprevisíveis" [2] . A modo de conclusão, a 14 de Abril o Financial Times publicava um artigo de Richard Haass, presidente do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, onde assinalava que "a era unipolar, período sem precedentes de domínio estado-unidense, terminou. Durou umas duas décadas, pouco mais de um instante em termos históricos" [3] .
Uma degradação prolongada
Para entender o que está a ocorrer, bem como seus possíveis desenvolvimentos futuros, é necessário levar em conta fenómenos que modelaram o comportamento da sociedade norte-americana durante as últimas três década gerando um processo mais amplo de decadência social.
Em primeiro lugar a deterioração da cultura produtiva, deslocada gradualmente por uma combinação de consumismo e práticas financeiras. A precarização laboral incentivada a partir da presidência de Reagan procurava diminuir a pressão salarial melhorando assim a rentabilidade capitalista e a competitividade internacional da indústria. Mas a longo prazo degradou a coesão laboral, o interesse dos assalariados para com as estruturas de produção. Isto derivou numa crescente ineficácia dos processos inovativos que passaram a ser cada vez mais difíceis e caros em comparação com os dos principais competidores globais (europeus, japoneses, etc). Um dos seus resultados foi o défice crónico e ascendente do comércio exterior (2 mil milhões de dólares em 1971, 28 mil milhões em 1981, 77 mil milhões em 1991, 430 mil milhões em 2001, 815 mil milhões em 2007).
Enquanto isso foi-se expandindo a massa de negócios financeiros absorvendo capitais que não encontravam espaços favoráveis no tecido industrial e outras actividades produtivas. As empresas e o Estado procuravam esses fundos, as primeiras para desenvolverem-se, concentrar-se, competir num mundo cada vez mais duro, e o segundo para financiar seus gastos militares e civis, que cumpriam um papel muito importante na sustentação da procura interna. Recordemos por exemplo as despesas descomunais provocadas pela chamada "Iniciativa de Defesa Estratégia" (mais conhecida como "Guerra das Estrelas") lançada por Reagan em 1983 no momento em que o desemprego superava os 10% da População Economicamente Activa (o número mais elevado desde o fim da Segunda Guerra Mundial).
Um segundo fenómeno foi a concentração de rendimentos. Nos princípios dos anos 1980 os 1% mais ricos da população absorviam entre 7% e 8% do Rendimento Nacional. Vinte anos depois o número havia duplicado e em 2007 rondava os 20%, o mais alto nível de concentração desde fins dos anos 1920. Por sua vez, os 10% mais ricos, que em meados dos anos 1950 absorviam um terço do Rendimento Nacional, passaram na actualidade a absorver 50% [4] . Ao contrário do que ensina a "teoria económica", a referida concentração não derivou em maiores poupanças e investimentos industriais e sim em mais consumo e mais negócios improdutivas que, com a ajuda do boom das tecnologias da informação e das comunicações, engendraram um universo semi virtual por cima do mundo, quase mágico, onde fantasia e realidade misturam-se caoticamente. Por ali navegaram (e ainda navegam) milhões de norte-americanos, em especial nas classes superiores.
Entrelaçado com o anterior irrompeu um processo, a princípio quase imperceptível mas a seguir esmagador de desintegração social, em que um dos seus aspectos mais notáveis é o incremento da criminalidade e da subcultura da transgressão que abrange os mais variados sectores da população. Tal processo foi acompanhado pela criminalização de pobres, marginais e minorias étnicas. Actualmente, os cárceres norte-americanos são os mais populosos do planeta. Em 1980 alojavam uns 500 mil presos, em 1990 cerca de 1.150.000, em 1997 eram 1.700.000, aos quais havia que acrescentar 3.900.000 em liberdade vigiada ( probation, etc), mas em fins de 2006 os presos somavam uns 2.260.000 e os cidadãos em liberdade vigiada uns 5 milhões. No total, mais de 7.200.000 norte-americanos encontravam-se sob custódia judicial [5] . Em Abril de 2008 um artigo aparecido no New York Times assinalava que os Estados Unidos, com menos de 5% da população mundial, alojam 25% de todos os presos do planeta, um em cada cem dos seus habitantes adultos encontram-se encarcerados. É o número mais alto a nível internacional [6] .
Militarização e decadência estatal
Outro fenómeno a ter em conta é a longa marcha ascendente do Complexo Industrial Militar, área de convergência entre o Estado, a indústria e a ciência que se foi expandindo desde meados dos anos 1930 atravessando governo democratas e republicanos, guerras reais ou imaginárias, períodos de calma global ou de alta tensão. Alguns autores, dentre eles Chalmers Johnson, consideram que os gastos militares foram o centro dinâmico da economia norte-americana desde da Segunda Guerra Mundial até as guerra euro-asiáticas da administração Bush-Cheney passando pela Coreia, Vietname, a Guerra das Estrelas e o Kosovo. Segundo Johnson, que define a estratégia sobre determinante seguida nas últimas sete décadas como "keynesianismo militar", o gasto bélico real do exercício fiscal de 2008 superaria os 1,1 milhões de milhões de dólares, o mais alto desde a Segunda Guerra Mundial [7] . Estes gastos foram crescendo ao longo do tempo envolvendo milhares de empresas e milhões de pessoas. De acordo com os cálculos de Rodrigue Tremblay no ano 2006, o Departamento da Defesa dos EUA empregou 2.143.000 pessoas enquanto os empreiteiros privados do sistema de defesa empregavam 3.600.000 trabalhadores (no total, 5.743.000 postos de trabalho) aos quais há que acrescentar uns 25 milhões de veteranos de guerra. Em suma, nos Estados Unidos umas 30 milhões de pessoas (número equivalente a 20% da População Economicamente Activa) recebem de maneira directa ou indirecta rendimentos proveniente da despesas pública militar [8] .
O efeito multiplicador do sector sobre o conjunto da economia possibilitou no passado a prosperidade de um esquema que Scott MacDonald qualifica como "the guns and butter economy", ou seja, uma estrutura onde o consumo de massas e a indústria bélica expandem-se ao mesmo tempo [9] . Mas esse longo ciclo está a chegar ao seu fim. A magnitude atingida pelos gastos bélicos converteram-nos num factor decisivo do défice fiscal causando inflação e desvalorização internacional do dólar. Além disso, sua hipertrofia concedeu um enorme peso político a elites estatais (civis e militares) e empresariais que foram embarcando num autismo sem contrapesos sociais.
O crescente refinamento tecnológico em paralelo com o encarecimento dos sistema de armas afastou cada vez mais a ciência militarizada das suas eventuais aplicações civis, afectando negativamente a competitividade industrial. Esta separação ascendente entre a ciência-militar (devoradora de fundos e talentos) e a indústria civil chegou a níveis catastróficos no período terminal da ex União Soviética. Agora a história parece repetir-se.
A tudo isto acrescenta-se um acontecimento aparentemente inesperado. As guerras do Iraque e do Afeganistão e de maneira indirecta o fracasso da ofensiva israelense no Líbano mostram a ineficácia operativa da super complexa (e super cara) maquinaria bélica de última geração posta em xeque por inimigos que operam de maneira descentralizada e com armas simples e baratas. O que coloca uma grave crise de percepção (uma catástrofe psicológica) entre os dirigentes do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos e da NATO (na história das civilizações esta não é a primeira vez que ocorre um fenómeno deste tipo).
Pois bem, a hipertrofia-crise da militarização está estreitamente associada (faz parte) à decadência do Estado expressa pelo recuo da sua capacidade integradora (declínio da segurança social, predomínio da cultura elitista nos seus centros de decisão, etc), pela degradação da infraestrutura e por um défice fiscal crónico e em aumento que redundou numa dívida pública gigantesca. Se nos ativermos às últimas quatro décadas, os superávites fiscais constituem uma raridade. A partir dos anos 1970 os défices foram crescendo até chegarem, em princípios dos 1990, a níveis muito altos. Entretanto, Clinton despediu-se em fins dessa década com alguns superávites que, observados do ponto de vista do longo prazo, surgem como factos efémeros. Mas desde a chegada de George W. Bush o défice regressou atingindo números sem precedentes: 160 mil milhões de dólares em 2002, 380 mil milhões em 2003, 320 mil milhões em 2005...
Encontramo-nos agora frente a um Estado imperial carregado de dívidas, cujo funcionamento já não depende só do sistema financeiro nacional como também (cada vez mais) do financiamento internacional. Teria sido extremamente difícil à Casa Branca lançar-se na sua aventura militar asiática sem a compra dos seus títulos por parte da China, Japão, Alemanha e outras fontes externas.
A dependência energética
A tudo isto é necessário acrescentar a dependência petrolífera. Por volta de 1960 os Estados Unidos importavam 16% do seu consumo, actualmente chegam aos 65%. Durante muito tempo puderam importar a preços baixos mas agora a situação mudou, a produção mundial de petróleo está a aproximar-se do seu nível máximo (dentro de muito pouco tempo começará a descer) o que, combinado com o enfraquecimento do dólar, está a levar o preço a níveis nunca antes atingidos. E a substituição parcial de combustível de origem fóssil por biocombustíveis (no qual também estão empenhadas as outras grandes potências industriais) reduz a disponibilidade relativa global de terras agrícolas para a produção de alimentos, o que provoca a subida geral dos preços dos produtos da agricultura. Em consequência, o efeito inflacionário amplifica-se.
Os Estados Unidos emergiram como um grande país industrial porque desde princípios do século XX foram também a primeira potência petrolífera internacional. Tal como a Inglaterra durante o século XIX em relação ao carvão, gozaram de uma vantagem energética que lhes permitiu desenvolver tecnologias apoiadas no referido privilégio e competir com êxito com o resto do mundo. Mas em meados dos anos 1950 importantes peritos norte-americanos, como o geólogo King Hubbert, anunciaram o fim próximo da era de abundância energética nacional. Tal como antecipou Hubbert (em 1956) a partir de princípios dos anos 1970 a produção petrolífera estado-unidense começaria a declinar. Assim aconteceu.
A incapacidade dos Estados Unidos para reconverter seu sistema energético (teve quase quatro décadas para fazê-lo) reduzindo ou travando sua dependência em relação ao petróleo pode ser atribuída em primeiro lugar à pressão das companhias de petróleo que impuseram a opção da exploração intensiva de recursos externos, periféricos, que foram sobre-estimados. Poderia afirmar-se neste caso que a dinâmica imperialista forjou uma armadilha energética da qual agora é vítima o próprio Império. O Estado não desenvolveu estratégias de longo prazo tendentes à poupança de energia – o que provavelmente teria desacelerado (não evitado) a crise energética actual – não só por imposição do lobby petrolífero como também porque suas cúpulas políticas (democratas e republicanas) foram-se submergindo na cultura do curto prazo correspondente à era da hegemonia financeira, subordinando-se por completo aos interesses imediatos dos grupos económicos dominantes.
Mas também deveríamos reflectir acerca dos limites do sistema tecnológico ocidental moderno, que os estado-unidenses exacerbaram ao extremo. O mesmo reproduziu-se em torno de objectos técnicos decisivos da cultura individualista (o automóvel, por exemplo) que definem o estilo de vida dominante e de procedimentos produtivos baseados na exploração intensiva de recursos naturais não renováveis ou na destruição dos ciclos de reprodução dos recursos renováveis. Graças a essa lógica destrutiva o capitalismo industrial na Europa pode, desde fins do século XVIII, tornar-se independente dos ritmos naturais, submetendo brutalmente a natureza e acelerando sua expansão. Isto aparecia, perante os admiradores do progresso dos séculos XIX e XX, como a grande proeza da civilização burguesa. Uma visão mais ampla permite-nos agora dar-nos conta de que se tratava do desdobrar de uma das suas irracionalidade fundamentais que os Estados Unidos, o capitalismo com mais êxito da história, levou ao mais alto nível jamais alcançado.
Desequilíbrios, dívidas, queda do dólar
A perda de dinamismo do sistema produtivo foi compensada pela expansão do consumo privado (centrado nas classe altas), pelos gastos militares e pela proliferação de actividades parasitárias lideradas pelo sistema financeiro. O que engendrou crescentes desequilíbrios fiscais e do comércio exterior e uma acumulação incessantes de dívidas públicas e privadas, internas e externas. A dívida pública norte-americana passou de 390 mil milhões de dólares em 1970 para 930 mil milhões em 1980, para 3,2 milhões de milhões em 1990, para 5,6 milhões de milhões em 2000 até saltar para 9,5 milhões de milhões em Abril de 2008. Por sua vez, a dívida total dos estado-unidenses (pública mais privada), na última data mencionada, rondava os 53 milhões de milhões de dólares (aproximadamente o equivalente ao Produto Bruto Mundial). Desse número, 20% (uns 10 milhões de milhões de dólares) são constituídos por dívida externa. Só durante o ano de 2007 a dívida total aumentou cerca de 4,3 milhões de milhões de dólares (o equivalente a 30% do Produto Interno Bruto norte-americano) [10] . O processo foi coroado por uma sucessão de borbulhas especulativas que marcaram, desde os anos 1990, um sistema que consumia para além das suas possibilidades produtivas.
A partir dos anos 1970-1980 é possível observar o crescimento paralelo de tendências perversas como os défices comercial, fiscal e energético, os gastos militares, o número de presos e as dívidas públicas e privadas. Todas essas curvas ascendentes surgem atravessadas por algumas tendências descendentes. Exemplo: a diminuição da taxa de poupança pessoal e a queda do valor internacional do dólar (que se acelerou na década actual), expressão do declínio da supremacia imperial.
--------------------------------------------------------------------------------
A articulação desses fenómenos permite-nos esboçar uma totalidade social decadente em que se incorporam (convergem) uma grande diversidade de factos de diferentes magnitude (culturais, tecnológicos, sociais, políticos, militares, etc).
Esta visão de longo prazo coloca a era dos falcões presidida por George W. Bush como uma espécie de "salto qualitativo" de um processo com várias décadas de desenvolvimento e não como um facto excepcional ou um desvio negativo. Estaríamos diante da fase mais recente da degradação do capitalismo estatista-keynesiano iniciado nos anos 1970, ponta pé inicial da crise geral do sistema. A experiência histórica ensina que esses arranques rumo ao inferno quase sempre começam em meio a euforias triunfalistas onde atrás de cada sinal de vitória oculta-se uma constatação de desastre. A louca corrida militar sobre a Eurásia estava (ainda está) no centro do discurso acerca do suposto combate vitorioso contra um inimigo (terrorista) global imaginário que submergiu no pântano as forças armadas imperiais. As expansões desenfreadas da borbulha imobiliária e das dívidas eram ocultadas pelos número dos aumentos do Produto Interno Bruto e da sensação (mediática) de prosperidade.
O centro do mundo
Os Estados Unidos constituem hoje o centro do mundo (do capitalismo global), seu declínio não é só o da primeira como o do espaço essencial da interpenetração produtiva, comercial e financeira à escala planetária que se foi acelerando nas últimas três décadas até formar uma trama muito densa da qual nenhuma economia capitalista desenvolvida ou subdesenvolvida pode escapar (sair dessa rede emaranhada significa romper com a lógica, com o funcionamento concreto do capitalismo integrado por classes dominantes locais altamente transnacionalizadas).
Durante a presente década a expansão económica na Europa, China e outros países subdesenvolvidos e o modesto (efémero) fim do estancamento japonês costumavam ser mostrados como o restabelecimento de capitalismos maduros e a ascensão de jovens capitalismos periféricos, quando na realidade tratou-se de prosperidades estreitamente relacionadas com a expansão consumista-financeira norte-americana. Os Estados Unidos representam 25% do Produto Bruto Mundial e são o primeiro importador global. Em 2007 compraram bens e serviços no valor de 2,3 milhões de milhões de dólares, são o principal cliente da China, Índia, Japão, Inglaterra e o primeiro mercado extra-europeu da Alemanha. Mas é sobretudo no plano financeiro, área hegemónica do sistema internacional, em que se destaca a sua primazia. Exemplo: a rede dos negócios com produtos financeiros derivados (mais de 600 milhões de milhões de dólares registados pelo Banco da Basiléia, ou seja, umas 12 vezes o Produto Mundial Bruto) articula-se a partir da estrutura financeira norte-americana, as grandes bolhas especulativas imperiais irradiam para o resto do mundo de maneira directa ou gerando bolhas paralelas como foi possível comprovar com a experiência recente da especulação imobiliária nos Estados Unidos e seus clones directos em Espanha, Inglaterra, Irlanda ou Austrália, ou indirectos como a super-bolha bursátil chinesa.
Se observarmos o comportamento económico das grandes potências comprovaremos em cada caso como suas esferas de negócios superam sempre os limites dos respectivos mercados nacionais e inclusive regionais, cuja dimensão real torna-se insuficiente do ponto de vista do volume e da articulação internacional das suas actividades. A União Europeia está solidamente atada aos Estados Unidos a nível comercial e industrial e principalmente financeiro, o Japão acrescenta a isso a sua histórica dependência das compras norte-americanas, por sua vez a China desenvolveu sua economia no último quarto de século na base das suas exportações industriais para os Estados Unidos e para países como o Japão, Coreia do Sul e outros, fortemente dependentes do Império. Enfim, o renascimento russo gira em torno das suas exportações energéticas (destinadas principalmente à Europa), sua elite económica foi-se estruturando desde o fim da URSS multiplicando suas operações à escala transnacional, em especial seus vínculos financeiros com a Europa ocidental e os Estados Unidos. Não se trata de simples laços directos com o Império e sim da reprodução ampliada acelerada de uma complexa rede global de negócios, mercados interdependentes, associações financeiras, inovações tecnológicas, etc, que integra o conjunto de burguesias dominantes do planeta. O mundo financeiro hipertrofiado é o seu espaço de circulaçõa natural e seu motor geográfico são os Estados Unidos, cuja decadência não pode ser dissociada do fenómeno mais amplo da chamada globalização, ou seja, da financiarização da economia mundial.
Poderíamos visualizar o Império como sujeito central do processo, seu grande beneficiário e manipulador, e ao mesmo tempo como seu objecto, produto de uma corrente que o levou até o mais alto nível de riqueza e degradação. Graças à globalização os Estados Unidos puderam sobre-consumir pagando ao resto do mundo com os seus dólares desvalorizados impondo-lhe o seu entesouramento (sob a forma de reservas) e seus títulos públicos que financiaram seus défices fiscais. Ainda que também, graças ao parasitismo norte-americano, europeus, chineses, japoneses, etc puderam colocar no mercado mundial uma porção significativa das suas exportações de mercadorias e de excedentes de capitais. Nesse sentido, o parasitismo financeiro, produto da crise de sobre-produção crónica, é em simultâneo norte-americano e universal. A outra face do consumismo imperial é a reprodução de capitalismos centrais e periféricos que necessitam transpor seus mercados locais para fazer crescer seus lucros. Isto é evidente nos casos da Europa ocidental e Japão mas também é evidente no caso da China que exporta graças a seus baixos salários (comprimindo seu mercado interno).
O que está agora a afundar não é a nave principal da frota (se assim fosse, numerosas embarcações poderiam salvar-se). Só há uma nave e é seu sector decisivo aquele que está a fazer água.
Horizontes turbulentos e ilusões conservadoras
Devemos por no seu contexto histórico as actuais intervenções dos Estados dos países centrais destinadas a contrapor-se à crise. Nos últimos meses proliferaram ilusões conservadoras mencionadas como possível desconexão de várias economias industriais e subdesenvolvidas em relação à recessão imperial, mas os factos vão derrubando tais esperanças. Junto a elas surgiu a fantasia do renascimento do intervencionismo keynesiano: segundo a referida hipótese o neoliberalismo (entendido como simples desestatização da economia) seria um fenómeno reversível e novamente, como há um século, o Estado salvaria o capitalismo. Na realidade, nas últimas quatro décadas produziu-se nos países centrais um fenómeno duplo: por um lado a degradação geral dos Estados que, mantendo seu tamanho em relação a cada economia nacional, ficaram submetidos aos grupos financeiros, perderam legitimidade social. E por outro foram progressivamente ultrapassados pelo sistema económico mundial não só por sua trama financeira como também por operações industriais e comerciais que burlavam os controles (cada vez mais frouxos) das instituições nacionais e regionais.
Nos Estados Unidos o referido processo avançou mais do que em nenhum outro país desenvolvido. Nunca foi abandonado o histórico keynesianismo militar, pelo contrário, o Complexo Militar-Industrial hipertrofiou-se articulando-se com um conjunto de negócios mafiosos, financeiros, energéticos, etc, que se converteu no centro dominante do sistema de poder, apropriando-se grosseiramente do aparelho estatal até convertê-lo em uma estrutura decadente.
Nos países centrais, o Estado intervencionista (de raiz keynesiana) não precisa regressar porque nunca se foi. Ao longo das últimas décadas, obediente às necessidades das áreas mais avançadas do capitalismo, foi modificando suas estratégias, apoiando a concentração de rendimentos e os desenvolvimentos parasitários, mudando sua ideologia, seu discurso (ontem integrador, social, produtivista-industrial, hoje elitista, neoliberal e virtualista-financeiro).
No mundo subdesenvolvido, onde o estatismo retrocedeu até ser em numerosos casos triturado pela onda depredadora imperialista, a desestatização foi sua forma concreta de submissão à dinâmica do capitalismo global. Ali, o regresso ao Estado interventor-desenvolvimentista de outras época é uma viagem no tempo fisicamente impossível. As burguesias dominantes locais, seus negócios decisivos, estão completamente transnacionalizados ou então sob a tutela directa de firmas transnacionais.
Agora em plena crise, ficam a descoberto os dois problemas sem solução à vista do Estado desenvolvido (imperialista): sua degeneração estrutural e sua insuficiência, sua impotência perante um mundo capitalista demasiado grande e complexo. É o que assinala Richard Haas no artigo citado acima, ainda que sem dizer que não se trata de uma reconversão positiva sobre-determinante do capitalismo internacional aquilo que encurrala o Estado norte-americano e os outros Estados centrais e sim, antes, de um fenómeno mundial negativo que de maneira rigorosa deveríamos definir como decadência global (económica-institucional-política-militar-tecnológica). É por isso que o paralelo agora na moda em certos círculos de peritos, entre a implosão soviética e a provável futura implosão dos Estados Unidos, é totalmente insuficiente porque existe, entre outras coisas, uma diferença de magnitude decisiva, o hiper-gigantismo do Império faz com que o seu afundamento tenha o poder de arrastamento sem precedentes na história humana. Mas também porque os Estados Unidos não constituem "um mundo aparte" (marginalizado) e sim o centro da cultura universal (o capitalismo), a etapa mais recente de uma longa história mundial em torno do Ocidente.
A imensidade do desastre em curso, a extrema radicalidade das rupturas que pode chegar a engendrar, muito superiores às que causaram a crise iniciada em 1914 (que deu nascimento a um longo ciclo de tentativas de superação do capitalismo e também do fascismo, tentativa de recomposição bárbara do sistema burguês) gera reacções espontâneas negadoras da realidade nas elites dominantes, nos espaços sociais conservadores e para além deles, mas a realidade da crise vai-se impondo. Todo o edifício de ideias, de certezas de diferentes sinais, construído ao longo de mais de dois séculos de capitalismo industrial está começando a rachar.
Maio/2008
Notas
(1), Paul Craig Roberts, "The collapse of American power", Online Journal, 20-03-2008.
(2), Peter Morice, "Bush Administration Dithers While Rome Burns. The Deepening recesion", Counterpunch, April 3, 2008.
(3), Richard Haass, "What follows American dominion?", Financial Times, April 16, 2008.
(4), Center on Budget and Policy Priorities.
(5), U.S. Department of Justice - Bureau of Justice Statistics.
(6), Adam Liptak, "American Exception. Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations", The New York Times, April 23, 2008
(7), Chalmers Johnson, "Going bankrupt: The US's greatest threat", Asia Times, 24 Jan 2008.
(8), Rodrigue Tremblay, "The Five Pillars of the U.S. Military-Industrial Complex", September 25, 2006, http://www.thenewamericanempire.com/tremblay=1038.htm .
(9), Scott B. MacDonald, "End of the guns and butter economy", Asia Times, October 31, 2007.
(10), Grandfather Economic Report ( http://mwhodges.home.att.net/ ).
– Os EUA entre a recessão e o colapso
por Jorge Beinstein [*]
A recessão instalou-se nos Estados Unidos. Os subsídios alimentares que em 2006 abrangiam uns 26,5 milhões de pessoas em 2007 subiram para 28 milhões, nível nunca atingido desde os anos 1960. Recentemente a OCDE reviu em baixa suas previsões de crescimento para a economia estado-unidense assinalando-lhe uma expansão igual a zero para o primeiro semestre deste ano. Pelo seu lado, o FMI acaba de fazer um prognóstico ainda mais grave pois inclui períodos de crescimento negativo. Estes organismos vinham bombardeando os meios de comunicação (que por sua vez bombardeavam o planeta) com prognósticos optimistas baseados na suposta fortaleza da economia norte-americana. Sustentavam que não haveria recessão e que o pior poderia ser um crescimento baixo, rapidamente ultrapassado por uma nova expansão... Se agora admitem a recessão é porque algo muito pior está no horizonte.
Sob a aparência de várias crises convergentes desenvolve-se perante os nossos olhos o final daquilo que deveríamos encarar como o primeiro capítulo do declínio do império norte-americano (aproximadamente 2001-2007) e o começo de um processo turbulento desencadeado pelo salto qualitativo de tendências negativas que se foram desenvolvendo ao longo de períodos de diferentes durações.
De qualquer forma, as más notícias financeiras, energéticas e militares não parecem aplacar os delírios messiânicos de Washington, antes pelo contrário. É como se Bush e seus falcões não fossem deixar a Casa Branca dentro de uns poucos meses. Continuam a ameaçar governos que não se submetem aos seus caprichos, insinuam novas guerras e afirmam querer prolongar indefinidamente as ocupações do Iraque e do Afeganistão, inclusive um ataque devastador contra o Irão é ainda possível. De vez em quando emerge uma nova onda de rumores bélicos a apontar o Irão – em geral com origem em declarações ou transpirados de altos funcionários do governo. Um ataque contra esse país teria consequências imediatas catastróficas para a economia mundial, o preço do petróleo dispararia para as nuvens, o sistema financeiro global passaria a uma situação caótica e a recessão imperial converter-se-ia em ultra recessão encabeçada por um dólar em queda livre. Talvez alguns estrategas do Pentágono e do círculo de falcões mais radicalizados estejam a imaginar uma grande fogueira mundial purificadora da qual emergiria vitoriosa a nação escolhida por Deus: os Estado Unidos da América. Trata-se de uma loucura, mas faz parte da configuração psicológica de uma parte importante da elite dominante, atravessada por uma corrente letal que combina virtualismo, omnipotência, desespero e fúria perante uma realidade a cada dia menos dócil.
Nos grandes centros de decisão económica actualmente domina a incerteza que se vai convertendo em pânico. O fantasma do colapso começa a mostrar o seu rosto. Enquanto isso todas as autoridades económicas norte-americanas injectam maciçamente liquidez no mercado, concedem subsídios fiscais e improvisam salvações custosas das instituições financeiras em bancarrota tentando suavizar a recessão, sabendo que desse modo aceleram a inflação e queda do dólar. Sua margem de manobras é muito pequena, a mistura de inflação e recessão torna completamente ineficazes seus instrumentos de intervenção.
A palavra "colapso" foi aparecendo com intensidade crescente desde fins do ano passado em entrevistas e artigos jornalísticos, muitas vezes combinadas com outras expressões não menos terríveis, em alguns casos adoptando seu aspecto mais popular (derrube, morte, queda catastrófica) e em outros sua forma rigorosa, ou seja, como sucessão irreversível de graves deteriorações sistémicas, como decadência geral. Paul Craig Roberts (que no passado foi membro da equipe directiva do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e editor do Wall Street Journal ) publicou em 20 de Março um texto intitulado "O colapso da potência americana" onde descreve o traços decisivos do declínio integral dos Estados Unidos [1] . A 27 de Março The Economist intitulava "Esperando o Armagedão" um artigo acerca da maré irresistível de bancarrotas empresariais norte-americanas. A 14 de Março The Intelligencer ostentava o título "Peritos internacionais prognosticam o colapso da economia norte-americana" num artigo em que recolhia as opiniões, dentre outros, de Bernard Connelly do banco AIG e de Martin Wolf, colunista do Financial Times.
A 3 de Abril Peter Morici, numa nota aparecida em Counterpunch, assinalava que "é impossível negar que a economia (estado-unidense) entrou numa recessão cuja profundidade e duração são imprevisíveis" [2] . A modo de conclusão, a 14 de Abril o Financial Times publicava um artigo de Richard Haass, presidente do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, onde assinalava que "a era unipolar, período sem precedentes de domínio estado-unidense, terminou. Durou umas duas décadas, pouco mais de um instante em termos históricos" [3] .
Uma degradação prolongada
Para entender o que está a ocorrer, bem como seus possíveis desenvolvimentos futuros, é necessário levar em conta fenómenos que modelaram o comportamento da sociedade norte-americana durante as últimas três década gerando um processo mais amplo de decadência social.
Em primeiro lugar a deterioração da cultura produtiva, deslocada gradualmente por uma combinação de consumismo e práticas financeiras. A precarização laboral incentivada a partir da presidência de Reagan procurava diminuir a pressão salarial melhorando assim a rentabilidade capitalista e a competitividade internacional da indústria. Mas a longo prazo degradou a coesão laboral, o interesse dos assalariados para com as estruturas de produção. Isto derivou numa crescente ineficácia dos processos inovativos que passaram a ser cada vez mais difíceis e caros em comparação com os dos principais competidores globais (europeus, japoneses, etc). Um dos seus resultados foi o défice crónico e ascendente do comércio exterior (2 mil milhões de dólares em 1971, 28 mil milhões em 1981, 77 mil milhões em 1991, 430 mil milhões em 2001, 815 mil milhões em 2007).
Enquanto isso foi-se expandindo a massa de negócios financeiros absorvendo capitais que não encontravam espaços favoráveis no tecido industrial e outras actividades produtivas. As empresas e o Estado procuravam esses fundos, as primeiras para desenvolverem-se, concentrar-se, competir num mundo cada vez mais duro, e o segundo para financiar seus gastos militares e civis, que cumpriam um papel muito importante na sustentação da procura interna. Recordemos por exemplo as despesas descomunais provocadas pela chamada "Iniciativa de Defesa Estratégia" (mais conhecida como "Guerra das Estrelas") lançada por Reagan em 1983 no momento em que o desemprego superava os 10% da População Economicamente Activa (o número mais elevado desde o fim da Segunda Guerra Mundial).
Um segundo fenómeno foi a concentração de rendimentos. Nos princípios dos anos 1980 os 1% mais ricos da população absorviam entre 7% e 8% do Rendimento Nacional. Vinte anos depois o número havia duplicado e em 2007 rondava os 20%, o mais alto nível de concentração desde fins dos anos 1920. Por sua vez, os 10% mais ricos, que em meados dos anos 1950 absorviam um terço do Rendimento Nacional, passaram na actualidade a absorver 50% [4] . Ao contrário do que ensina a "teoria económica", a referida concentração não derivou em maiores poupanças e investimentos industriais e sim em mais consumo e mais negócios improdutivas que, com a ajuda do boom das tecnologias da informação e das comunicações, engendraram um universo semi virtual por cima do mundo, quase mágico, onde fantasia e realidade misturam-se caoticamente. Por ali navegaram (e ainda navegam) milhões de norte-americanos, em especial nas classes superiores.
Entrelaçado com o anterior irrompeu um processo, a princípio quase imperceptível mas a seguir esmagador de desintegração social, em que um dos seus aspectos mais notáveis é o incremento da criminalidade e da subcultura da transgressão que abrange os mais variados sectores da população. Tal processo foi acompanhado pela criminalização de pobres, marginais e minorias étnicas. Actualmente, os cárceres norte-americanos são os mais populosos do planeta. Em 1980 alojavam uns 500 mil presos, em 1990 cerca de 1.150.000, em 1997 eram 1.700.000, aos quais havia que acrescentar 3.900.000 em liberdade vigiada ( probation, etc), mas em fins de 2006 os presos somavam uns 2.260.000 e os cidadãos em liberdade vigiada uns 5 milhões. No total, mais de 7.200.000 norte-americanos encontravam-se sob custódia judicial [5] . Em Abril de 2008 um artigo aparecido no New York Times assinalava que os Estados Unidos, com menos de 5% da população mundial, alojam 25% de todos os presos do planeta, um em cada cem dos seus habitantes adultos encontram-se encarcerados. É o número mais alto a nível internacional [6] .
Militarização e decadência estatal
Outro fenómeno a ter em conta é a longa marcha ascendente do Complexo Industrial Militar, área de convergência entre o Estado, a indústria e a ciência que se foi expandindo desde meados dos anos 1930 atravessando governo democratas e republicanos, guerras reais ou imaginárias, períodos de calma global ou de alta tensão. Alguns autores, dentre eles Chalmers Johnson, consideram que os gastos militares foram o centro dinâmico da economia norte-americana desde da Segunda Guerra Mundial até as guerra euro-asiáticas da administração Bush-Cheney passando pela Coreia, Vietname, a Guerra das Estrelas e o Kosovo. Segundo Johnson, que define a estratégia sobre determinante seguida nas últimas sete décadas como "keynesianismo militar", o gasto bélico real do exercício fiscal de 2008 superaria os 1,1 milhões de milhões de dólares, o mais alto desde a Segunda Guerra Mundial [7] . Estes gastos foram crescendo ao longo do tempo envolvendo milhares de empresas e milhões de pessoas. De acordo com os cálculos de Rodrigue Tremblay no ano 2006, o Departamento da Defesa dos EUA empregou 2.143.000 pessoas enquanto os empreiteiros privados do sistema de defesa empregavam 3.600.000 trabalhadores (no total, 5.743.000 postos de trabalho) aos quais há que acrescentar uns 25 milhões de veteranos de guerra. Em suma, nos Estados Unidos umas 30 milhões de pessoas (número equivalente a 20% da População Economicamente Activa) recebem de maneira directa ou indirecta rendimentos proveniente da despesas pública militar [8] .
O efeito multiplicador do sector sobre o conjunto da economia possibilitou no passado a prosperidade de um esquema que Scott MacDonald qualifica como "the guns and butter economy", ou seja, uma estrutura onde o consumo de massas e a indústria bélica expandem-se ao mesmo tempo [9] . Mas esse longo ciclo está a chegar ao seu fim. A magnitude atingida pelos gastos bélicos converteram-nos num factor decisivo do défice fiscal causando inflação e desvalorização internacional do dólar. Além disso, sua hipertrofia concedeu um enorme peso político a elites estatais (civis e militares) e empresariais que foram embarcando num autismo sem contrapesos sociais.
O crescente refinamento tecnológico em paralelo com o encarecimento dos sistema de armas afastou cada vez mais a ciência militarizada das suas eventuais aplicações civis, afectando negativamente a competitividade industrial. Esta separação ascendente entre a ciência-militar (devoradora de fundos e talentos) e a indústria civil chegou a níveis catastróficos no período terminal da ex União Soviética. Agora a história parece repetir-se.
A tudo isto acrescenta-se um acontecimento aparentemente inesperado. As guerras do Iraque e do Afeganistão e de maneira indirecta o fracasso da ofensiva israelense no Líbano mostram a ineficácia operativa da super complexa (e super cara) maquinaria bélica de última geração posta em xeque por inimigos que operam de maneira descentralizada e com armas simples e baratas. O que coloca uma grave crise de percepção (uma catástrofe psicológica) entre os dirigentes do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos e da NATO (na história das civilizações esta não é a primeira vez que ocorre um fenómeno deste tipo).
Pois bem, a hipertrofia-crise da militarização está estreitamente associada (faz parte) à decadência do Estado expressa pelo recuo da sua capacidade integradora (declínio da segurança social, predomínio da cultura elitista nos seus centros de decisão, etc), pela degradação da infraestrutura e por um défice fiscal crónico e em aumento que redundou numa dívida pública gigantesca. Se nos ativermos às últimas quatro décadas, os superávites fiscais constituem uma raridade. A partir dos anos 1970 os défices foram crescendo até chegarem, em princípios dos 1990, a níveis muito altos. Entretanto, Clinton despediu-se em fins dessa década com alguns superávites que, observados do ponto de vista do longo prazo, surgem como factos efémeros. Mas desde a chegada de George W. Bush o défice regressou atingindo números sem precedentes: 160 mil milhões de dólares em 2002, 380 mil milhões em 2003, 320 mil milhões em 2005...
Encontramo-nos agora frente a um Estado imperial carregado de dívidas, cujo funcionamento já não depende só do sistema financeiro nacional como também (cada vez mais) do financiamento internacional. Teria sido extremamente difícil à Casa Branca lançar-se na sua aventura militar asiática sem a compra dos seus títulos por parte da China, Japão, Alemanha e outras fontes externas.
A dependência energética
A tudo isto é necessário acrescentar a dependência petrolífera. Por volta de 1960 os Estados Unidos importavam 16% do seu consumo, actualmente chegam aos 65%. Durante muito tempo puderam importar a preços baixos mas agora a situação mudou, a produção mundial de petróleo está a aproximar-se do seu nível máximo (dentro de muito pouco tempo começará a descer) o que, combinado com o enfraquecimento do dólar, está a levar o preço a níveis nunca antes atingidos. E a substituição parcial de combustível de origem fóssil por biocombustíveis (no qual também estão empenhadas as outras grandes potências industriais) reduz a disponibilidade relativa global de terras agrícolas para a produção de alimentos, o que provoca a subida geral dos preços dos produtos da agricultura. Em consequência, o efeito inflacionário amplifica-se.
Os Estados Unidos emergiram como um grande país industrial porque desde princípios do século XX foram também a primeira potência petrolífera internacional. Tal como a Inglaterra durante o século XIX em relação ao carvão, gozaram de uma vantagem energética que lhes permitiu desenvolver tecnologias apoiadas no referido privilégio e competir com êxito com o resto do mundo. Mas em meados dos anos 1950 importantes peritos norte-americanos, como o geólogo King Hubbert, anunciaram o fim próximo da era de abundância energética nacional. Tal como antecipou Hubbert (em 1956) a partir de princípios dos anos 1970 a produção petrolífera estado-unidense começaria a declinar. Assim aconteceu.
A incapacidade dos Estados Unidos para reconverter seu sistema energético (teve quase quatro décadas para fazê-lo) reduzindo ou travando sua dependência em relação ao petróleo pode ser atribuída em primeiro lugar à pressão das companhias de petróleo que impuseram a opção da exploração intensiva de recursos externos, periféricos, que foram sobre-estimados. Poderia afirmar-se neste caso que a dinâmica imperialista forjou uma armadilha energética da qual agora é vítima o próprio Império. O Estado não desenvolveu estratégias de longo prazo tendentes à poupança de energia – o que provavelmente teria desacelerado (não evitado) a crise energética actual – não só por imposição do lobby petrolífero como também porque suas cúpulas políticas (democratas e republicanas) foram-se submergindo na cultura do curto prazo correspondente à era da hegemonia financeira, subordinando-se por completo aos interesses imediatos dos grupos económicos dominantes.
Mas também deveríamos reflectir acerca dos limites do sistema tecnológico ocidental moderno, que os estado-unidenses exacerbaram ao extremo. O mesmo reproduziu-se em torno de objectos técnicos decisivos da cultura individualista (o automóvel, por exemplo) que definem o estilo de vida dominante e de procedimentos produtivos baseados na exploração intensiva de recursos naturais não renováveis ou na destruição dos ciclos de reprodução dos recursos renováveis. Graças a essa lógica destrutiva o capitalismo industrial na Europa pode, desde fins do século XVIII, tornar-se independente dos ritmos naturais, submetendo brutalmente a natureza e acelerando sua expansão. Isto aparecia, perante os admiradores do progresso dos séculos XIX e XX, como a grande proeza da civilização burguesa. Uma visão mais ampla permite-nos agora dar-nos conta de que se tratava do desdobrar de uma das suas irracionalidade fundamentais que os Estados Unidos, o capitalismo com mais êxito da história, levou ao mais alto nível jamais alcançado.
Desequilíbrios, dívidas, queda do dólar
A perda de dinamismo do sistema produtivo foi compensada pela expansão do consumo privado (centrado nas classe altas), pelos gastos militares e pela proliferação de actividades parasitárias lideradas pelo sistema financeiro. O que engendrou crescentes desequilíbrios fiscais e do comércio exterior e uma acumulação incessantes de dívidas públicas e privadas, internas e externas. A dívida pública norte-americana passou de 390 mil milhões de dólares em 1970 para 930 mil milhões em 1980, para 3,2 milhões de milhões em 1990, para 5,6 milhões de milhões em 2000 até saltar para 9,5 milhões de milhões em Abril de 2008. Por sua vez, a dívida total dos estado-unidenses (pública mais privada), na última data mencionada, rondava os 53 milhões de milhões de dólares (aproximadamente o equivalente ao Produto Bruto Mundial). Desse número, 20% (uns 10 milhões de milhões de dólares) são constituídos por dívida externa. Só durante o ano de 2007 a dívida total aumentou cerca de 4,3 milhões de milhões de dólares (o equivalente a 30% do Produto Interno Bruto norte-americano) [10] . O processo foi coroado por uma sucessão de borbulhas especulativas que marcaram, desde os anos 1990, um sistema que consumia para além das suas possibilidades produtivas.
A partir dos anos 1970-1980 é possível observar o crescimento paralelo de tendências perversas como os défices comercial, fiscal e energético, os gastos militares, o número de presos e as dívidas públicas e privadas. Todas essas curvas ascendentes surgem atravessadas por algumas tendências descendentes. Exemplo: a diminuição da taxa de poupança pessoal e a queda do valor internacional do dólar (que se acelerou na década actual), expressão do declínio da supremacia imperial.
--------------------------------------------------------------------------------
A articulação desses fenómenos permite-nos esboçar uma totalidade social decadente em que se incorporam (convergem) uma grande diversidade de factos de diferentes magnitude (culturais, tecnológicos, sociais, políticos, militares, etc).
Esta visão de longo prazo coloca a era dos falcões presidida por George W. Bush como uma espécie de "salto qualitativo" de um processo com várias décadas de desenvolvimento e não como um facto excepcional ou um desvio negativo. Estaríamos diante da fase mais recente da degradação do capitalismo estatista-keynesiano iniciado nos anos 1970, ponta pé inicial da crise geral do sistema. A experiência histórica ensina que esses arranques rumo ao inferno quase sempre começam em meio a euforias triunfalistas onde atrás de cada sinal de vitória oculta-se uma constatação de desastre. A louca corrida militar sobre a Eurásia estava (ainda está) no centro do discurso acerca do suposto combate vitorioso contra um inimigo (terrorista) global imaginário que submergiu no pântano as forças armadas imperiais. As expansões desenfreadas da borbulha imobiliária e das dívidas eram ocultadas pelos número dos aumentos do Produto Interno Bruto e da sensação (mediática) de prosperidade.
O centro do mundo
Os Estados Unidos constituem hoje o centro do mundo (do capitalismo global), seu declínio não é só o da primeira como o do espaço essencial da interpenetração produtiva, comercial e financeira à escala planetária que se foi acelerando nas últimas três décadas até formar uma trama muito densa da qual nenhuma economia capitalista desenvolvida ou subdesenvolvida pode escapar (sair dessa rede emaranhada significa romper com a lógica, com o funcionamento concreto do capitalismo integrado por classes dominantes locais altamente transnacionalizadas).
Durante a presente década a expansão económica na Europa, China e outros países subdesenvolvidos e o modesto (efémero) fim do estancamento japonês costumavam ser mostrados como o restabelecimento de capitalismos maduros e a ascensão de jovens capitalismos periféricos, quando na realidade tratou-se de prosperidades estreitamente relacionadas com a expansão consumista-financeira norte-americana. Os Estados Unidos representam 25% do Produto Bruto Mundial e são o primeiro importador global. Em 2007 compraram bens e serviços no valor de 2,3 milhões de milhões de dólares, são o principal cliente da China, Índia, Japão, Inglaterra e o primeiro mercado extra-europeu da Alemanha. Mas é sobretudo no plano financeiro, área hegemónica do sistema internacional, em que se destaca a sua primazia. Exemplo: a rede dos negócios com produtos financeiros derivados (mais de 600 milhões de milhões de dólares registados pelo Banco da Basiléia, ou seja, umas 12 vezes o Produto Mundial Bruto) articula-se a partir da estrutura financeira norte-americana, as grandes bolhas especulativas imperiais irradiam para o resto do mundo de maneira directa ou gerando bolhas paralelas como foi possível comprovar com a experiência recente da especulação imobiliária nos Estados Unidos e seus clones directos em Espanha, Inglaterra, Irlanda ou Austrália, ou indirectos como a super-bolha bursátil chinesa.
Se observarmos o comportamento económico das grandes potências comprovaremos em cada caso como suas esferas de negócios superam sempre os limites dos respectivos mercados nacionais e inclusive regionais, cuja dimensão real torna-se insuficiente do ponto de vista do volume e da articulação internacional das suas actividades. A União Europeia está solidamente atada aos Estados Unidos a nível comercial e industrial e principalmente financeiro, o Japão acrescenta a isso a sua histórica dependência das compras norte-americanas, por sua vez a China desenvolveu sua economia no último quarto de século na base das suas exportações industriais para os Estados Unidos e para países como o Japão, Coreia do Sul e outros, fortemente dependentes do Império. Enfim, o renascimento russo gira em torno das suas exportações energéticas (destinadas principalmente à Europa), sua elite económica foi-se estruturando desde o fim da URSS multiplicando suas operações à escala transnacional, em especial seus vínculos financeiros com a Europa ocidental e os Estados Unidos. Não se trata de simples laços directos com o Império e sim da reprodução ampliada acelerada de uma complexa rede global de negócios, mercados interdependentes, associações financeiras, inovações tecnológicas, etc, que integra o conjunto de burguesias dominantes do planeta. O mundo financeiro hipertrofiado é o seu espaço de circulaçõa natural e seu motor geográfico são os Estados Unidos, cuja decadência não pode ser dissociada do fenómeno mais amplo da chamada globalização, ou seja, da financiarização da economia mundial.
Poderíamos visualizar o Império como sujeito central do processo, seu grande beneficiário e manipulador, e ao mesmo tempo como seu objecto, produto de uma corrente que o levou até o mais alto nível de riqueza e degradação. Graças à globalização os Estados Unidos puderam sobre-consumir pagando ao resto do mundo com os seus dólares desvalorizados impondo-lhe o seu entesouramento (sob a forma de reservas) e seus títulos públicos que financiaram seus défices fiscais. Ainda que também, graças ao parasitismo norte-americano, europeus, chineses, japoneses, etc puderam colocar no mercado mundial uma porção significativa das suas exportações de mercadorias e de excedentes de capitais. Nesse sentido, o parasitismo financeiro, produto da crise de sobre-produção crónica, é em simultâneo norte-americano e universal. A outra face do consumismo imperial é a reprodução de capitalismos centrais e periféricos que necessitam transpor seus mercados locais para fazer crescer seus lucros. Isto é evidente nos casos da Europa ocidental e Japão mas também é evidente no caso da China que exporta graças a seus baixos salários (comprimindo seu mercado interno).
O que está agora a afundar não é a nave principal da frota (se assim fosse, numerosas embarcações poderiam salvar-se). Só há uma nave e é seu sector decisivo aquele que está a fazer água.
Horizontes turbulentos e ilusões conservadoras
Devemos por no seu contexto histórico as actuais intervenções dos Estados dos países centrais destinadas a contrapor-se à crise. Nos últimos meses proliferaram ilusões conservadoras mencionadas como possível desconexão de várias economias industriais e subdesenvolvidas em relação à recessão imperial, mas os factos vão derrubando tais esperanças. Junto a elas surgiu a fantasia do renascimento do intervencionismo keynesiano: segundo a referida hipótese o neoliberalismo (entendido como simples desestatização da economia) seria um fenómeno reversível e novamente, como há um século, o Estado salvaria o capitalismo. Na realidade, nas últimas quatro décadas produziu-se nos países centrais um fenómeno duplo: por um lado a degradação geral dos Estados que, mantendo seu tamanho em relação a cada economia nacional, ficaram submetidos aos grupos financeiros, perderam legitimidade social. E por outro foram progressivamente ultrapassados pelo sistema económico mundial não só por sua trama financeira como também por operações industriais e comerciais que burlavam os controles (cada vez mais frouxos) das instituições nacionais e regionais.
Nos Estados Unidos o referido processo avançou mais do que em nenhum outro país desenvolvido. Nunca foi abandonado o histórico keynesianismo militar, pelo contrário, o Complexo Militar-Industrial hipertrofiou-se articulando-se com um conjunto de negócios mafiosos, financeiros, energéticos, etc, que se converteu no centro dominante do sistema de poder, apropriando-se grosseiramente do aparelho estatal até convertê-lo em uma estrutura decadente.
Nos países centrais, o Estado intervencionista (de raiz keynesiana) não precisa regressar porque nunca se foi. Ao longo das últimas décadas, obediente às necessidades das áreas mais avançadas do capitalismo, foi modificando suas estratégias, apoiando a concentração de rendimentos e os desenvolvimentos parasitários, mudando sua ideologia, seu discurso (ontem integrador, social, produtivista-industrial, hoje elitista, neoliberal e virtualista-financeiro).
No mundo subdesenvolvido, onde o estatismo retrocedeu até ser em numerosos casos triturado pela onda depredadora imperialista, a desestatização foi sua forma concreta de submissão à dinâmica do capitalismo global. Ali, o regresso ao Estado interventor-desenvolvimentista de outras época é uma viagem no tempo fisicamente impossível. As burguesias dominantes locais, seus negócios decisivos, estão completamente transnacionalizados ou então sob a tutela directa de firmas transnacionais.
Agora em plena crise, ficam a descoberto os dois problemas sem solução à vista do Estado desenvolvido (imperialista): sua degeneração estrutural e sua insuficiência, sua impotência perante um mundo capitalista demasiado grande e complexo. É o que assinala Richard Haas no artigo citado acima, ainda que sem dizer que não se trata de uma reconversão positiva sobre-determinante do capitalismo internacional aquilo que encurrala o Estado norte-americano e os outros Estados centrais e sim, antes, de um fenómeno mundial negativo que de maneira rigorosa deveríamos definir como decadência global (económica-institucional-política-militar-tecnológica). É por isso que o paralelo agora na moda em certos círculos de peritos, entre a implosão soviética e a provável futura implosão dos Estados Unidos, é totalmente insuficiente porque existe, entre outras coisas, uma diferença de magnitude decisiva, o hiper-gigantismo do Império faz com que o seu afundamento tenha o poder de arrastamento sem precedentes na história humana. Mas também porque os Estados Unidos não constituem "um mundo aparte" (marginalizado) e sim o centro da cultura universal (o capitalismo), a etapa mais recente de uma longa história mundial em torno do Ocidente.
A imensidade do desastre em curso, a extrema radicalidade das rupturas que pode chegar a engendrar, muito superiores às que causaram a crise iniciada em 1914 (que deu nascimento a um longo ciclo de tentativas de superação do capitalismo e também do fascismo, tentativa de recomposição bárbara do sistema burguês) gera reacções espontâneas negadoras da realidade nas elites dominantes, nos espaços sociais conservadores e para além deles, mas a realidade da crise vai-se impondo. Todo o edifício de ideias, de certezas de diferentes sinais, construído ao longo de mais de dois séculos de capitalismo industrial está começando a rachar.
Maio/2008
Notas
(1), Paul Craig Roberts, "The collapse of American power", Online Journal, 20-03-2008.
(2), Peter Morice, "Bush Administration Dithers While Rome Burns. The Deepening recesion", Counterpunch, April 3, 2008.
(3), Richard Haass, "What follows American dominion?", Financial Times, April 16, 2008.
(4), Center on Budget and Policy Priorities.
(5), U.S. Department of Justice - Bureau of Justice Statistics.
(6), Adam Liptak, "American Exception. Inmate Count in U.S. Dwarfs Other Nations", The New York Times, April 23, 2008
(7), Chalmers Johnson, "Going bankrupt: The US's greatest threat", Asia Times, 24 Jan 2008.
(8), Rodrigue Tremblay, "The Five Pillars of the U.S. Military-Industrial Complex", September 25, 2006, http://www.thenewamericanempire.com/tremblay=1038.htm .
(9), Scott B. MacDonald, "End of the guns and butter economy", Asia Times, October 31, 2007.
(10), Grandfather Economic Report ( http://mwhodges.home.att.net/ ).
- EDSON
- Sênior

- Mensagens: 7303
- Registrado em: Sex Fev 16, 2007 4:12 pm
- Localização: CURITIBA/PR
- Agradeceu: 65 vezes
- Agradeceram: 335 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
21/05/2008
Petróleo: o poder mudou de lado
Jean-Michel Bezat
No início dos anos 1970, quando o barril de "ouro negro" valia menos de US$ 2, ninguém jamais iria imaginar que um presidente americano se encontraria um dia na situação de ser obrigado a implorar perante o rei da Arábia Saudita por um aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com o objetivo de forçar uma redução dos preços. O Ocidente, entretanto, chegou a este ponto. Depois de esbarrar numa primeira recusa grosseira, em meados de janeiro, George W. Bush voltou a insistir neste pedido, na sexta-feira (16/05), por ocasião do seu encontro em Riad com o rei Abdala. A tentativa fracassou mais uma vez, pois tudo o que o presidente americano conseguiu foi um aumento limitado e temporário.
Já vai longe a época em que a Standard Oil of New Jersey, a Anglo-Persian, a Gulf Oil e suas quatro outras "irmãs" dominavam o mercado mundial. O tempo em que o presidente Roosevelt conseguiu obter do então rei Ibn Saud a abertura dos poços sauditas para as companhias estrangeiras em troca da proteção militar americana (1945). A época em que era possível derrubar impunemente o primeiro-ministro iraniano Mossadegh (1953), culpado de ter nacionalizado os hidrocarbonetos. O tempo em que fingiam acreditar que o petróleo era uma riqueza inesgotável.
PETRÓLEO: O PODER MUDOU DE LADO
'ORÁCULO' PREVÊ BARRIL A US$ 200
O poder de mercado mudou de lado. Ele escapou dos países consumidores e das grandes multinacionais do setor (Exxon, Chevron, Shell, BP. . .). A evolução do preço de referência do barril (que se aproxima atualmente de US$ 130) está sendo decidida nos bastidores do Kremlin e nas obscuras ante-salas do poder iraniano, no meio dos manguezais nigerianos e nas ribanceiras do Orenoco venezuelano, nos corredores vienenses da Opep e nas agitadas salas da New York Mercantile Exchange (NYMEX, a bolsa especializada na energia e nos metais). E, sobretudo, nos palácios sauditas.
O mundo está vivendo um terceiro choque do petróleo - mais lento do que os anteriores, de 1973 e de 1980. O preço do barril, cujo montante foi multiplicado por seis no espaço de seis anos, é hoje mais elevado em dólares constantes do que era no início de 1981. O seu preço poderá eventualmente refluir de dez ou vinte dólares dentro dos próximos meses, mas nada é menos certo. Alguns analistas tão influentes como os do banco de negócios Goldman Sachs prevêem a manutenção da sua cotação em US$ 141 em média no decorrer do segundo semestre, e em US$ 148 em 2009. A OPEP, por sua vez, não exclui mais que ele venha a alcançar US$ 200. . .
A Arábia Saudita, o único país capaz de liberar a injeção de um milhão de barris suplementares no mercado, está relutando a proceder desta forma. Ele até mesmo modificou a orientação do seu discurso, recentemente, anunciando que iria limitar o teto da sua produção cotidiana a 12,5 milhões de barris entre 2009 e 2020, de maneira a preservar as suas reservas e, junto com elas, os interesses das gerações futuras. "Toda vez que vocês descobrirem novas jazidas, deixem-nas no solo, pois os nossos filhos delas irão precisar", decidiu o rei.Nada consegue convencer os sauditas a abrirem as comportas. Eles avaliam que o mercado está suficientemente abastecido e que os estoques de petróleo bruto e de gasolina se mantêm em níveis satisfatórios. Eles estão preocupados, acima de tudo, com a política energética dos Estados Unidos, que visa a reduzir a sua "dependência petroleira" em relação ao Oriente Médio - uma palavra de ordem que foi lançada pelo presidente Bush e retomada em coro pelos pré-candidatos à eleição presidencial John McCain e Barack Obama. Basta ouvir os inflamados discursos acusatórios do ministro saudita da energia contra os biocombustíveis que vêm sendo desenvolvidos no continente americano, para compreender os interesses que estão em jogo. A isso, deve ser acrescentada a vontade de alguns parlamentares americanos de submeter o mercado petroleiro às regras anticartéis do comércio internacional, e até mesmo de suspender as vendas de armas se Riad continuar se recusando a aumentar a sua produção de petróleo.
Essas iniciativas preocupam e irritam os dirigentes da Opep. A estratégia do cartel de Viena, que renunciou desde 2003 a determinar um valor máximo e outro mínimo para o preço do petróleo, parece simples: seguir abastecendo o mercado para evitar toda ruptura, reduzir o "colchão de segurança" ao mínimo (2 milhões de barris por dia) e manter desta forma os preços tão elevados quanto possível, sem comprometer o crescimento econômico. Por serem proprietários dos três quartos das reservas mundiais, os treze Estados membros da Opep detêm todo o poder de barganha necessário para imporem a política que eles bem entendem.
Explosão dos preços
A dependência dos países consumidores está vinculada à fragilidade das multinacionais. Os Estados petrolíferos e as suas companhias públicas nacionais compartilham entre si 85% das reservas mundiais. Com isso, os gigantes multinacionais hoje não detêm mais do que 15% dessas reservas e enfrentam problemas para reconstituí-las à medida que elas vão extraindo a matéria-prima.
Qual será o peso real do "gigante" ExxonMobil, a maior companhia cotada, se comparado com a Gazprom ou a Saudi Aramco? O acesso das grandes companhias ocidentais aos campos petrolíferos - após se verem "barrados" na Arábia Saudita, no Kuwait e no México, a sua penetração está cada vez mais difícil na Rússia, na Venezuela e na Argélia - implicaria "no retorno ao período anterior ao das nacionalizações realizadas nos anos 1970", avalia Nicolas Sarkis, o diretor da revista especializada "Pétrole et gaz arabes".
Será preciso travar uma guerra para reconquistar o precioso líquido? Esta opção é inimaginável, mesmo se a necessidade de petróleo veio a ser um dos motivos da invasão americana do Iraque em 2003, conforme reconheceu o antigo presidente do Fed (o banco central americano), Alan Greenspan. Além disso, esta guerra permitiria obter qual benefício? Ao atiçar as tensões no Oriente Médio e ao reduzir a oferta, a guerra no Iraque contribuiu para a explosão dos preços. A luta para tomar posse dessas reservas por meio da força não passaria de "uma batalha de retaguarda", uma vez que os países petroleiros se encontram atualmente "numa posição de força", comenta Nicolas Sarkis. Eles podem vender as suas enormes reservas em dólares e impedir que os beligerantes do petróleo dele se apoderem, oferecendo-as a países mais pacíficos. Antes para a China do que para a América!
Um bom número de países industrializados tirou as lições das crises de 1973 e 1980 e optou por reduzir a sua dependência. Hoje, eles precisam de menos "ouro negro" para criarem a mesma riqueza. Nos Estados Unidos, as administrações sucessivas tomaram decisões que foram na contramão desta tendência, valendo-se de argumentos do tipo: "O modo de vida americano não é negociável". Por conta disso, a sua taxa de dependência em relação ao petróleo importado acabou passando de 60% para 80%.
Neste exato momento, o problema é de natureza geopolítica: o acesso ao recurso petroleiro está minguando. Num futuro próximo, ele passará a ser geológico. Nas reservas conhecidas, hoje sobra o equivalente a 1,2 trilhão de barris de petróleo, ou seja, o suficiente para quarenta anos de consumo mundial, seguindo-se o ritmo de extração atual. Os mais otimistas multiplicam este número por três, acrescentando os tipos de petróleo bruto chamados de "não-convencionais" (óleos pesados, areias betuminosas). Infelizmente, a extração destes últimos é muito mais cara. Enquanto isso, as reservas dos campos vêm diminuindo inexoravelmente na Arábia Saudita, na Rússia, na Noruega, no México, na Indonésia...
A única resposta prática reside numa diminuição do consumo. Ora, a explosão dos preços não resultou numa redução da demanda, a não ser de maneira marginal, uma vez que os transportes funcionam, numa proporção de 97%, apenas por meio dos derivados do petróleo bruto. Contudo, a redução do consumo nunca foi tão vital, seja para reforçar a segurança energética, seja para lutar contra o aquecimento climático.
O mais barato e o mais limpo de todos os tipos de petróleo continua sendo aquele que não é queimado.
Tradução: Jean-Yves de Neufville
Visite o site do Le Monde
Petróleo: o poder mudou de lado
Jean-Michel Bezat
No início dos anos 1970, quando o barril de "ouro negro" valia menos de US$ 2, ninguém jamais iria imaginar que um presidente americano se encontraria um dia na situação de ser obrigado a implorar perante o rei da Arábia Saudita por um aumento da produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), com o objetivo de forçar uma redução dos preços. O Ocidente, entretanto, chegou a este ponto. Depois de esbarrar numa primeira recusa grosseira, em meados de janeiro, George W. Bush voltou a insistir neste pedido, na sexta-feira (16/05), por ocasião do seu encontro em Riad com o rei Abdala. A tentativa fracassou mais uma vez, pois tudo o que o presidente americano conseguiu foi um aumento limitado e temporário.
Já vai longe a época em que a Standard Oil of New Jersey, a Anglo-Persian, a Gulf Oil e suas quatro outras "irmãs" dominavam o mercado mundial. O tempo em que o presidente Roosevelt conseguiu obter do então rei Ibn Saud a abertura dos poços sauditas para as companhias estrangeiras em troca da proteção militar americana (1945). A época em que era possível derrubar impunemente o primeiro-ministro iraniano Mossadegh (1953), culpado de ter nacionalizado os hidrocarbonetos. O tempo em que fingiam acreditar que o petróleo era uma riqueza inesgotável.
PETRÓLEO: O PODER MUDOU DE LADO
'ORÁCULO' PREVÊ BARRIL A US$ 200
O poder de mercado mudou de lado. Ele escapou dos países consumidores e das grandes multinacionais do setor (Exxon, Chevron, Shell, BP. . .). A evolução do preço de referência do barril (que se aproxima atualmente de US$ 130) está sendo decidida nos bastidores do Kremlin e nas obscuras ante-salas do poder iraniano, no meio dos manguezais nigerianos e nas ribanceiras do Orenoco venezuelano, nos corredores vienenses da Opep e nas agitadas salas da New York Mercantile Exchange (NYMEX, a bolsa especializada na energia e nos metais). E, sobretudo, nos palácios sauditas.
O mundo está vivendo um terceiro choque do petróleo - mais lento do que os anteriores, de 1973 e de 1980. O preço do barril, cujo montante foi multiplicado por seis no espaço de seis anos, é hoje mais elevado em dólares constantes do que era no início de 1981. O seu preço poderá eventualmente refluir de dez ou vinte dólares dentro dos próximos meses, mas nada é menos certo. Alguns analistas tão influentes como os do banco de negócios Goldman Sachs prevêem a manutenção da sua cotação em US$ 141 em média no decorrer do segundo semestre, e em US$ 148 em 2009. A OPEP, por sua vez, não exclui mais que ele venha a alcançar US$ 200. . .
A Arábia Saudita, o único país capaz de liberar a injeção de um milhão de barris suplementares no mercado, está relutando a proceder desta forma. Ele até mesmo modificou a orientação do seu discurso, recentemente, anunciando que iria limitar o teto da sua produção cotidiana a 12,5 milhões de barris entre 2009 e 2020, de maneira a preservar as suas reservas e, junto com elas, os interesses das gerações futuras. "Toda vez que vocês descobrirem novas jazidas, deixem-nas no solo, pois os nossos filhos delas irão precisar", decidiu o rei.Nada consegue convencer os sauditas a abrirem as comportas. Eles avaliam que o mercado está suficientemente abastecido e que os estoques de petróleo bruto e de gasolina se mantêm em níveis satisfatórios. Eles estão preocupados, acima de tudo, com a política energética dos Estados Unidos, que visa a reduzir a sua "dependência petroleira" em relação ao Oriente Médio - uma palavra de ordem que foi lançada pelo presidente Bush e retomada em coro pelos pré-candidatos à eleição presidencial John McCain e Barack Obama. Basta ouvir os inflamados discursos acusatórios do ministro saudita da energia contra os biocombustíveis que vêm sendo desenvolvidos no continente americano, para compreender os interesses que estão em jogo. A isso, deve ser acrescentada a vontade de alguns parlamentares americanos de submeter o mercado petroleiro às regras anticartéis do comércio internacional, e até mesmo de suspender as vendas de armas se Riad continuar se recusando a aumentar a sua produção de petróleo.
Essas iniciativas preocupam e irritam os dirigentes da Opep. A estratégia do cartel de Viena, que renunciou desde 2003 a determinar um valor máximo e outro mínimo para o preço do petróleo, parece simples: seguir abastecendo o mercado para evitar toda ruptura, reduzir o "colchão de segurança" ao mínimo (2 milhões de barris por dia) e manter desta forma os preços tão elevados quanto possível, sem comprometer o crescimento econômico. Por serem proprietários dos três quartos das reservas mundiais, os treze Estados membros da Opep detêm todo o poder de barganha necessário para imporem a política que eles bem entendem.
Explosão dos preços
A dependência dos países consumidores está vinculada à fragilidade das multinacionais. Os Estados petrolíferos e as suas companhias públicas nacionais compartilham entre si 85% das reservas mundiais. Com isso, os gigantes multinacionais hoje não detêm mais do que 15% dessas reservas e enfrentam problemas para reconstituí-las à medida que elas vão extraindo a matéria-prima.
Qual será o peso real do "gigante" ExxonMobil, a maior companhia cotada, se comparado com a Gazprom ou a Saudi Aramco? O acesso das grandes companhias ocidentais aos campos petrolíferos - após se verem "barrados" na Arábia Saudita, no Kuwait e no México, a sua penetração está cada vez mais difícil na Rússia, na Venezuela e na Argélia - implicaria "no retorno ao período anterior ao das nacionalizações realizadas nos anos 1970", avalia Nicolas Sarkis, o diretor da revista especializada "Pétrole et gaz arabes".
Será preciso travar uma guerra para reconquistar o precioso líquido? Esta opção é inimaginável, mesmo se a necessidade de petróleo veio a ser um dos motivos da invasão americana do Iraque em 2003, conforme reconheceu o antigo presidente do Fed (o banco central americano), Alan Greenspan. Além disso, esta guerra permitiria obter qual benefício? Ao atiçar as tensões no Oriente Médio e ao reduzir a oferta, a guerra no Iraque contribuiu para a explosão dos preços. A luta para tomar posse dessas reservas por meio da força não passaria de "uma batalha de retaguarda", uma vez que os países petroleiros se encontram atualmente "numa posição de força", comenta Nicolas Sarkis. Eles podem vender as suas enormes reservas em dólares e impedir que os beligerantes do petróleo dele se apoderem, oferecendo-as a países mais pacíficos. Antes para a China do que para a América!
Um bom número de países industrializados tirou as lições das crises de 1973 e 1980 e optou por reduzir a sua dependência. Hoje, eles precisam de menos "ouro negro" para criarem a mesma riqueza. Nos Estados Unidos, as administrações sucessivas tomaram decisões que foram na contramão desta tendência, valendo-se de argumentos do tipo: "O modo de vida americano não é negociável". Por conta disso, a sua taxa de dependência em relação ao petróleo importado acabou passando de 60% para 80%.
Neste exato momento, o problema é de natureza geopolítica: o acesso ao recurso petroleiro está minguando. Num futuro próximo, ele passará a ser geológico. Nas reservas conhecidas, hoje sobra o equivalente a 1,2 trilhão de barris de petróleo, ou seja, o suficiente para quarenta anos de consumo mundial, seguindo-se o ritmo de extração atual. Os mais otimistas multiplicam este número por três, acrescentando os tipos de petróleo bruto chamados de "não-convencionais" (óleos pesados, areias betuminosas). Infelizmente, a extração destes últimos é muito mais cara. Enquanto isso, as reservas dos campos vêm diminuindo inexoravelmente na Arábia Saudita, na Rússia, na Noruega, no México, na Indonésia...
A única resposta prática reside numa diminuição do consumo. Ora, a explosão dos preços não resultou numa redução da demanda, a não ser de maneira marginal, uma vez que os transportes funcionam, numa proporção de 97%, apenas por meio dos derivados do petróleo bruto. Contudo, a redução do consumo nunca foi tão vital, seja para reforçar a segurança energética, seja para lutar contra o aquecimento climático.
O mais barato e o mais limpo de todos os tipos de petróleo continua sendo aquele que não é queimado.
Tradução: Jean-Yves de Neufville
Visite o site do Le Monde
- Marino
- Sênior

- Mensagens: 15667
- Registrado em: Dom Nov 26, 2006 4:04 pm
- Agradeceu: 134 vezes
- Agradeceram: 630 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
E a AS virando campo de batalha.
Fonte: Terra
Obama apoiará ataques da Colômbia além-fronteira
Se for eleito presidente dos Estados Unidos o democrata Barack Obama apoiará o direito do governo da Colômbia "de atacar terroristas que buscarem santuário além de suas fronteiras", de acordo com o documento "Uma nova parceria para as Américas", divulgado hoje, que define a plataforma do candidato para a América Latina.
O documento foi divulgado assim que Obama fez um discurso diante da Fundação Nacional Cubano-Americana, na Flórida.
De acordo com o texto, um governo Obama apoiará o direito da Colômbia "de se defender contra as FARC" e exporá "para condenação internacional e isolamento regional" qualquer apoio às FARC "que vier de integrantes de governos vizinhos."
Mas, quando se trata de comércio, a postura de Obama será protecionista: ele reafirma que é contra a aprovação do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos e Colômbia, que aguarda aprovação no Congresso americano.
Sobre a Venezuela, diz o texto:
"O presidente Hugo Chávez aumentou a sua retórica anti-Estados Unidos e tentou se opor à influência americana em toda a América Latina. Alguns comentaristas temem que Chávez ameace os mercados de petróleo e a estabilidade regional. Barack Obama acredita que os Estados Unidos devem restabelecer a sua liderança tradicional na região - em democracia, comércio, desenvolvimento, energia e imigração. Isso vai reduzir o antiamericanismo que brotou da oposição às políticas globais da administração Bush e à falta de engajamento na América Latina."
Sobre eleições na região, diz a plataforma do candidato:
"O presidente Obama vai defender a luta dos democratas quando eles denunciarem eleições que não forem justas, nem livres, e enfrentará os que tentarem solapar o processo democrático, de forma que eleições fraudulentas não possam mais ser usadas para legitimar governos em lugares como a Venezuela ou Colômbia, onde as FARC têm rotineiramente sequestrado autoridades do governo."
Fonte: Terra
Obama apoiará ataques da Colômbia além-fronteira
Se for eleito presidente dos Estados Unidos o democrata Barack Obama apoiará o direito do governo da Colômbia "de atacar terroristas que buscarem santuário além de suas fronteiras", de acordo com o documento "Uma nova parceria para as Américas", divulgado hoje, que define a plataforma do candidato para a América Latina.
O documento foi divulgado assim que Obama fez um discurso diante da Fundação Nacional Cubano-Americana, na Flórida.
De acordo com o texto, um governo Obama apoiará o direito da Colômbia "de se defender contra as FARC" e exporá "para condenação internacional e isolamento regional" qualquer apoio às FARC "que vier de integrantes de governos vizinhos."
Mas, quando se trata de comércio, a postura de Obama será protecionista: ele reafirma que é contra a aprovação do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos e Colômbia, que aguarda aprovação no Congresso americano.
Sobre a Venezuela, diz o texto:
"O presidente Hugo Chávez aumentou a sua retórica anti-Estados Unidos e tentou se opor à influência americana em toda a América Latina. Alguns comentaristas temem que Chávez ameace os mercados de petróleo e a estabilidade regional. Barack Obama acredita que os Estados Unidos devem restabelecer a sua liderança tradicional na região - em democracia, comércio, desenvolvimento, energia e imigração. Isso vai reduzir o antiamericanismo que brotou da oposição às políticas globais da administração Bush e à falta de engajamento na América Latina."
Sobre eleições na região, diz a plataforma do candidato:
"O presidente Obama vai defender a luta dos democratas quando eles denunciarem eleições que não forem justas, nem livres, e enfrentará os que tentarem solapar o processo democrático, de forma que eleições fraudulentas não possam mais ser usadas para legitimar governos em lugares como a Venezuela ou Colômbia, onde as FARC têm rotineiramente sequestrado autoridades do governo."
"A reconquista da soberania perdida não restabelece o status quo."
Barão do Rio Branco
Barão do Rio Branco
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
Re: GEOPOLÍTICA
Curioso é lembrar que uma das perguntas feitas às nossas forças armadas era a de uma agressão de um país vizinho apoiado por uma grande potência...... ![Cool 8-]](./images/smilies/icon_cool.gif)
- delmar
- Sênior

- Mensagens: 5257
- Registrado em: Qui Jun 16, 2005 10:24 pm
- Localização: porto alegre
- Agradeceu: 206 vezes
- Agradeceram: 504 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
O objetivo do documento é agradar os eleitores cubanos-americanos da flórida e assim conseguir votos por lá. Terá tanto valor, após a eleição, quanto uma nota de quinze reais.O documento foi divulgado assim que Obama fez um discurso diante da Fundação Nacional Cubano-Americana, na Flórida.
saudações
Todas coisas que nós ouvimos são uma opinião, não um fato. Todas coisas que nós vemos são uma perspectiva, não a verdade. by Marco Aurélio, imperador romano.
- Paisano
- Sênior

- Mensagens: 16163
- Registrado em: Dom Mai 25, 2003 2:34 pm
- Localização: Volta Redonda, RJ - Brasil
- Agradeceu: 649 vezes
- Agradeceram: 285 vezes
- Contato:
Re: GEOPOLÍTICA
Aff...Tigershark escreveu:Leiam esta coluna.....
Folha de São Paulo
Assunto: Opinião
Título: 1b O papel das armas / coluna
Data: 20/05/2008
Crédito: Clóvis Rossi
Clóvis Rossi
SÃO PAULO - O presidente peruano Alan García propôs, durante a recém-realizada Cúpula de Lima, que os países latino-americanos proibissem a compra e a venda de armas. Refere-se, é claro, a equipamentos militares.
A delegação brasileira recebeu a idéia com mau humor, mas a proposta é corretíssima, ainda que jamais venha a ser aplicada. Correta porque, se se compram armas para confrontos entre vizinhos, é um crime imperdoável. A América Latina precisa de integração, não de conflitos.
Se for o caso de comprar armas para enfrentar exércitos extra-sub-continente, a quantidade de recursos necessários está completamente fora do alcance até dos mais ricos países da região.
É escandalosamente óbvio que há pelo menos mil prioridades à frente do armamentismo. Mas a proposta é inaplicável, porque os países latino-americanos ainda não resolveram o dilema existencial de suas Forças Armadas. De um lado, perderam, em quase todos os países, o "inimigo interno" (o supostamente onipresente comunismo internacional), que serviu de pretexto para ditaduras e repressões selvagens.
O inimigo externo, por sua vez, ou é o vizinho, com o qual ninguém em seu juízo perfeito imagina um conflito armado, ou são exércitos de países mais distantes, imensamente superiores em armamento e tecnologia, o que torna qualquer conflito um autêntico suicídio.
Basta lembrar o massacre que foi a guerra da Argentina contra o Reino Unido pelas Malvinas, em 1982.
Nesse cenário, outra boa proposta é a do futuro ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, de usar as Forças Armadas para proteger a Amazônia. Faz mais sentido, por exemplo, do que manter uma imensa sede para o 6º Distrito Naval na Vila Mariana, em São Paulo, a 60 quilômetros do mar. Marinha longe do mar faz sentido?
Antes ler essa asneira do que ser cego.
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
Re: GEOPOLÍTICA
26/05/2008 - 06h57 - Atualizado em 26/05/2008 - 07h25
América do Sul caminha para moeda e Banco Central únicos, diz Lula
União Sul-Americana de Nações (Unasul) vai tratar do tema.
Segundo presidente, ‘é preciso ajudar países economicamente mais frágeis’.
Do G1, em São Paulo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, ao longo do programa de rádio “Café com o presidente”, que foi ao ar na manhã desta segunda-feira (26), que os países da América do Sul caminham para ter, no futuro, moeda e Banco Central únicos. Ele defendeu a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano e ajuda aos países economicamente mais frágeis.
“Nós agora estamos criando o Banco da América do Sul. Nós vamos caminhar para termos um Banco Central único, para ter moeda única. Isso é um processo e não é uma coisa rápida”, afirmou o presidente.
Lula falou sobre o assunto ao explicar sobre o tratado de criação da União Sul-Americana de Nações (Unasul), acordo assinado por vários chefes de estados na semana passada, em Brasília.
90 dias
“Ficou para nos próximos 90 dias a gente elaborar melhor a proposta (de criação de moeda e Banco Central únicos na América do Sul), tirar algumas divergências e aprovar. A verdade é que, dos 12 países, apenas a Colômbia colocou objeção. Depois eu conversei com o presidente Uribe. Vamos voltar a conversar. E eu acho que as coisas vão se acertar”.
De acordo com Lula, a América do Sul e o Brasil estão no caminho certo. “O que é importante para mim é uma frase que eu disse quando tomei posse em 2003: ‘nós vamos começar fazendo o necessário, depois a gente vai fazer o possível e quando menos imaginar nós estaremos fazendo o impossível’. Era impossível, há cinco anos, a gente pensar que a situação da América do Sul estivesse do jeito que está, com muitos presidentes comprometidos com a maioria do povo, com a inclusão social, eleitos democraticamente, com as instituições se fortalecendo e com a criação da Unasul”, disse.
Saiba mais
» Chávez diz que Unasul pode favorecer união econômica
» Lula está de 'alma lavada' com a criação da Unasul
» Para não contrariar aliados, Lula só deve fazer campanha em duas capitais
» Lula diz que Unasul cria sonho maior que o de Bolívar
Soberanos
O presidente está esperançoso com a criação do organismo sul-americano. “Me sinto feliz pelo fato de termos criado a Unasul. Eu lembro quando em 2004, em dezembro, na cidade de Cuzco, Peru, tivemos a idéia de criar uma União Sul-Americana de Nações. Parecia uma coisa impossível porque aqui na América do Sul fomos preparados, doutrinados para acreditar que não daríamos certo em nada, que somos pobres, que brigamos muito e que temos que depender dos EUA e da União Européia. O que aconteceu é que mudou a geopolítica da América do Sul. Mudou em todos os países. Mudou a compreensão de que, juntos, poderemos ser muito mais fortes e soberanos. E que poderemos fazer mais e melhor. Na União Européia, tivemos países que não aceitaram moeda única, que não aceitaram a constituição, e, nem por isso, as pessoas falavam em crise. É uma coisa normal de uma convivência democrática na diversidade”.
Para Lula, a Unasul será um avanço na região. “Isso vai facilitar que a gente negocie com outros blocos em conjunto, que com esse estabelecimento do tratado e da confiança mútua, possamos fazer mais obras de integração. Poderemos fazer mais ferrovias, rodovias, pontes, linhas de transmissão. Ou seja, acho que foi a realização de um sonho. Mas ainda vamos ter que trabalhar muito. O primeiro passo foi dado de forma extraordinária”.
Países mais frágeis
Lula não tem dúvida de que a Unasul será a solução para muitos problemas na América do Sul. “Nós vamos vencendo as barreiras e também os céticos. É importante a gente lembrar o que era a América do Sul poucos anos atrás e o que é agora. Há uma evolução extraordinária. Mesmo a compreensão de setores brasileiros do empresariado, que antigamente não tinham coragem de fazer qualquer investimento nos países na América do Sul, e hoje nós temos dezenas de empresas brasileiras investindo em todos os países da América do Sul. Nós precisamos investir na Bolívia, fortalecer o Paraguai, o Uruguai, que são os países economicamente mais fragéis. Nós temos obrigação de ajudá-los. Porque quanto mais forte economicamente forem os países da América do Sul mais tranqüilidade todos nós vamos ter, mais paz, democracia, comércio, empresas, empregos, renda, desenvolvimento. É isso que nós buscamos para a América do Sul e eu acho que é isso que foi consolidado com a assinatura do tratado”.
América do Sul caminha para moeda e Banco Central únicos, diz Lula
União Sul-Americana de Nações (Unasul) vai tratar do tema.
Segundo presidente, ‘é preciso ajudar países economicamente mais frágeis’.
Do G1, em São Paulo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, ao longo do programa de rádio “Café com o presidente”, que foi ao ar na manhã desta segunda-feira (26), que os países da América do Sul caminham para ter, no futuro, moeda e Banco Central únicos. Ele defendeu a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano e ajuda aos países economicamente mais frágeis.
“Nós agora estamos criando o Banco da América do Sul. Nós vamos caminhar para termos um Banco Central único, para ter moeda única. Isso é um processo e não é uma coisa rápida”, afirmou o presidente.
Lula falou sobre o assunto ao explicar sobre o tratado de criação da União Sul-Americana de Nações (Unasul), acordo assinado por vários chefes de estados na semana passada, em Brasília.
90 dias
“Ficou para nos próximos 90 dias a gente elaborar melhor a proposta (de criação de moeda e Banco Central únicos na América do Sul), tirar algumas divergências e aprovar. A verdade é que, dos 12 países, apenas a Colômbia colocou objeção. Depois eu conversei com o presidente Uribe. Vamos voltar a conversar. E eu acho que as coisas vão se acertar”.
De acordo com Lula, a América do Sul e o Brasil estão no caminho certo. “O que é importante para mim é uma frase que eu disse quando tomei posse em 2003: ‘nós vamos começar fazendo o necessário, depois a gente vai fazer o possível e quando menos imaginar nós estaremos fazendo o impossível’. Era impossível, há cinco anos, a gente pensar que a situação da América do Sul estivesse do jeito que está, com muitos presidentes comprometidos com a maioria do povo, com a inclusão social, eleitos democraticamente, com as instituições se fortalecendo e com a criação da Unasul”, disse.
Saiba mais
» Chávez diz que Unasul pode favorecer união econômica
» Lula está de 'alma lavada' com a criação da Unasul
» Para não contrariar aliados, Lula só deve fazer campanha em duas capitais
» Lula diz que Unasul cria sonho maior que o de Bolívar
Soberanos
O presidente está esperançoso com a criação do organismo sul-americano. “Me sinto feliz pelo fato de termos criado a Unasul. Eu lembro quando em 2004, em dezembro, na cidade de Cuzco, Peru, tivemos a idéia de criar uma União Sul-Americana de Nações. Parecia uma coisa impossível porque aqui na América do Sul fomos preparados, doutrinados para acreditar que não daríamos certo em nada, que somos pobres, que brigamos muito e que temos que depender dos EUA e da União Européia. O que aconteceu é que mudou a geopolítica da América do Sul. Mudou em todos os países. Mudou a compreensão de que, juntos, poderemos ser muito mais fortes e soberanos. E que poderemos fazer mais e melhor. Na União Européia, tivemos países que não aceitaram moeda única, que não aceitaram a constituição, e, nem por isso, as pessoas falavam em crise. É uma coisa normal de uma convivência democrática na diversidade”.
Para Lula, a Unasul será um avanço na região. “Isso vai facilitar que a gente negocie com outros blocos em conjunto, que com esse estabelecimento do tratado e da confiança mútua, possamos fazer mais obras de integração. Poderemos fazer mais ferrovias, rodovias, pontes, linhas de transmissão. Ou seja, acho que foi a realização de um sonho. Mas ainda vamos ter que trabalhar muito. O primeiro passo foi dado de forma extraordinária”.
Países mais frágeis
Lula não tem dúvida de que a Unasul será a solução para muitos problemas na América do Sul. “Nós vamos vencendo as barreiras e também os céticos. É importante a gente lembrar o que era a América do Sul poucos anos atrás e o que é agora. Há uma evolução extraordinária. Mesmo a compreensão de setores brasileiros do empresariado, que antigamente não tinham coragem de fazer qualquer investimento nos países na América do Sul, e hoje nós temos dezenas de empresas brasileiras investindo em todos os países da América do Sul. Nós precisamos investir na Bolívia, fortalecer o Paraguai, o Uruguai, que são os países economicamente mais fragéis. Nós temos obrigação de ajudá-los. Porque quanto mais forte economicamente forem os países da América do Sul mais tranqüilidade todos nós vamos ter, mais paz, democracia, comércio, empresas, empregos, renda, desenvolvimento. É isso que nós buscamos para a América do Sul e eu acho que é isso que foi consolidado com a assinatura do tratado”.
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
Re: GEOPOLÍTICA
Correio Braziliense
Assunto: Política
Título: Obama, a América e o Brasil / coluna
Data: 26/05/2008
Crédito: Gustavo Krieger
Gustavo Krieger
O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas intenções também não ficaram claras
Na sexta-feira, Barack Obama, o candidato mais badalado à presidência dos Estados Unidos, fez seu primeiro discurso inteiramente dedicado à América Latina. A primeira observação importante é a do calendário. A campanha eleitoral americana se desenvolve há meses, especialmente para os democratas, ainda divididos entre Obama e a senadora Hillary Clinton. Só agora, no final de maio, o postulante favorito dedica sua atenção à parte de baixo do continente. Uma demonstração inequívoca da falta de prioridade que a região tem no debate político da América do Norte.
Também são significativos o cenário e as circunstâncias em que se deu o discurso. Obama falou em um almoço da Fundação Nacional Cubano-Americana, uma organização anticastrista muito influente no estado da Flórida. Foi diante dos cubanos de Miami que ele apresentou o que chamou de “Nova parceria para as Américas”. Por trás do nome pomposo, propostas que dizem muito mais sobre os Estados Unidos que sobre a América Latina.
Bloqueio
Como não poderia deixar de ser, o tema principal foi Cuba. Depois de anos de guerra fria e bloqueio econômico, os americanos ainda não sabem como reagir às medidas liberalizantes anunciadas nos últimos tempos, desde que Raúl Castro substituiu o irmão Fidel no comando da ilha. Obama chegou ao encontro com os cubanos em situação delicada. Ele tinha sofrido duras críticas do candidato do Partido Republicano, John McCain, por ter anunciado a intenção de encontrar-se com Raúl Castro.
Acusado de ingenuidade política pelo adversário e diante de um público que não admite a conciliação com o castrismo, Obama fez um complicado malabarismo. Disse que deseja investir na diplomacia e que pode se encontrar com Castro, mas anunciou que manterá o embargo econômico contra Cuba. Lamentou a falta de diálogo da administração Bush com a Venezuela, mas atacou Hugo Chávez. E defendeu o direito do governo da Colômbia de atacar as guerrilhas das Farc mesmo em território estrangeiro. Enfim, uma mão afagou e a outra segurou o porrete. Qual o verdadeiro Obama? Difícil saber, até porque em suas manifestações anteriores ele não demonstrou um conhecimento sobre a América Latina forte o suficiente para ter posições contundentes.
O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas intenções também não ficaram claras. Deu para perceber que estamos arquivados na sessão dos “países amigos”. “Podemos aprender com os brasileiros”, disse ele, que descreveu o país como um modelo para o mundo.
Liderança
Ele afirmou que a economia brasileira “tem crescido muito” e falou da liderança do país no mercado de biocombustíveis, mas ressaltou as desigualdades sociais. E foi assim, de generalidade em generalidade, que o pacto para as Américas de Obama descreveu o Brasil.
O presidente dos Estados Unidos é um interlocutor importante do Brasil, especialmente no momento em que o país tenta assumir o protagonismo político da América Latina, como faz o governo Lula. Essa relação tende a se tornar mais tensa nos próximos anos, com a presença na agenda de questões polêmicas como os biocombustíveis e a Amazônia. Para os eleitores americanos, Barack Obama representa o novo. Para o Brasil, por enquanto, ele representa o desconhecido. E vice-versa.
Assunto: Política
Título: Obama, a América e o Brasil / coluna
Data: 26/05/2008
Crédito: Gustavo Krieger
Gustavo Krieger
O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas intenções também não ficaram claras
Na sexta-feira, Barack Obama, o candidato mais badalado à presidência dos Estados Unidos, fez seu primeiro discurso inteiramente dedicado à América Latina. A primeira observação importante é a do calendário. A campanha eleitoral americana se desenvolve há meses, especialmente para os democratas, ainda divididos entre Obama e a senadora Hillary Clinton. Só agora, no final de maio, o postulante favorito dedica sua atenção à parte de baixo do continente. Uma demonstração inequívoca da falta de prioridade que a região tem no debate político da América do Norte.
Também são significativos o cenário e as circunstâncias em que se deu o discurso. Obama falou em um almoço da Fundação Nacional Cubano-Americana, uma organização anticastrista muito influente no estado da Flórida. Foi diante dos cubanos de Miami que ele apresentou o que chamou de “Nova parceria para as Américas”. Por trás do nome pomposo, propostas que dizem muito mais sobre os Estados Unidos que sobre a América Latina.
Bloqueio
Como não poderia deixar de ser, o tema principal foi Cuba. Depois de anos de guerra fria e bloqueio econômico, os americanos ainda não sabem como reagir às medidas liberalizantes anunciadas nos últimos tempos, desde que Raúl Castro substituiu o irmão Fidel no comando da ilha. Obama chegou ao encontro com os cubanos em situação delicada. Ele tinha sofrido duras críticas do candidato do Partido Republicano, John McCain, por ter anunciado a intenção de encontrar-se com Raúl Castro.
Acusado de ingenuidade política pelo adversário e diante de um público que não admite a conciliação com o castrismo, Obama fez um complicado malabarismo. Disse que deseja investir na diplomacia e que pode se encontrar com Castro, mas anunciou que manterá o embargo econômico contra Cuba. Lamentou a falta de diálogo da administração Bush com a Venezuela, mas atacou Hugo Chávez. E defendeu o direito do governo da Colômbia de atacar as guerrilhas das Farc mesmo em território estrangeiro. Enfim, uma mão afagou e a outra segurou o porrete. Qual o verdadeiro Obama? Difícil saber, até porque em suas manifestações anteriores ele não demonstrou um conhecimento sobre a América Latina forte o suficiente para ter posições contundentes.
O Brasil ocupou um papel secundário no discurso de Obama sobre a América Latina. E tem o mesmo status em suas prioridades. As formulações que fez sobre o país são vagas. Suas intenções também não ficaram claras. Deu para perceber que estamos arquivados na sessão dos “países amigos”. “Podemos aprender com os brasileiros”, disse ele, que descreveu o país como um modelo para o mundo.
Liderança
Ele afirmou que a economia brasileira “tem crescido muito” e falou da liderança do país no mercado de biocombustíveis, mas ressaltou as desigualdades sociais. E foi assim, de generalidade em generalidade, que o pacto para as Américas de Obama descreveu o Brasil.
O presidente dos Estados Unidos é um interlocutor importante do Brasil, especialmente no momento em que o país tenta assumir o protagonismo político da América Latina, como faz o governo Lula. Essa relação tende a se tornar mais tensa nos próximos anos, com a presença na agenda de questões polêmicas como os biocombustíveis e a Amazônia. Para os eleitores americanos, Barack Obama representa o novo. Para o Brasil, por enquanto, ele representa o desconhecido. E vice-versa.
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
Re: GEOPOLÍTICA
Segunda, 26 de maio de 2008, 14h17 Atualizada às 13h49
Diplomata não crê em exército comum sul-americano
Daniel Milazzo
Na última sexta-feira, líderes de 12 países da América do Sul estiveram reunidos em Brasília para a formação da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). O ministro da Defesa, Nelson Jobim, queria que a ocasião servisse também para protocolar a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano, mas isto não ocorreu.
O diplomata João Solano Carneiro da Cunha, coordenador-geral da União de Nações Sul-Americanas e Grupo do Rio (CGSUL), ligado ao Ministério de Relações Exteriores, afirma que a criação da Unasul pretende "não apenas fortalecer os países, mas todo o continente".
- A Unasul é um bloco que não se restringe somente aos aspectos comercial e financeiro. Os objetivos da Unasul são mais amplos, mais ambiciosos, passam muito pela área social, de educação, de saúde, não é uma mero acordo de liberalização de comércio ou de temas econômicos. A idéia é estar de acordo com o que se faz no mundo inteiro hoje. A América do Sul foi o último continente a concluir esse processo em torno da formação de um bloco. Ainda tem muito caminho pela frente - explica.
Peru e Colômbia mantêm Tratados de Livre Comércio com os Estados Unidos, ao passo que países como Bolívia, Equador e Venezuela são explicitamente contra esse tipo de acordo econômico. Além disso, Equador e Colômbia ainda estão com as relações diplomáticas rompidas após a intervenção do exército colombiano em território equatoriano, que culminou na morte de número 2 das Farc, Raúl Reyes. Questionado sobre as dificuldades que estes aspectos representariam para o sucesso da Unasul, Solano responde:
- Toda experiência é bem-vinda, soma, toda experiência acrescenta. Isso tudo se negocia.
Conselho de Defesa
Na reunião da última sexta-feira - que selou a formalização da Unasul - foi estipulado o prazo de 90 dias para que autoridades ligadas à área da Defesa discutam uma agenda para a reunião ministerial entre os ministros da Defesa de cada país da América do Sul.
O que exatamente este Conselho irá fazer, o coordenador-geral da CGSUL diz que "ninguém sabe":
- Eu não sei e ninguém sabe. A idéia do Conselho de Defesa é promover uma reunião de ministros de Defesa para que eles discutam onde podem atuar melhor, onde há complementaridade entre políticas de defesa, indústria bélica, onde pode haver mais cooperação.
De acordo com Solano, a Unasul prevê que os chefes de Estado convoquem reuniões setoriais, como já existe em Energia, o que deu origem ao Conselho Energético Sul-americano. E ressalta que, a priori, a proposta não é a criação de um exército comum.
Terra Magazine
Diplomata não crê em exército comum sul-americano
Daniel Milazzo
Na última sexta-feira, líderes de 12 países da América do Sul estiveram reunidos em Brasília para a formação da União das Nações Sul-Americanas (Unasul). O ministro da Defesa, Nelson Jobim, queria que a ocasião servisse também para protocolar a criação de um Conselho de Defesa Sul-Americano, mas isto não ocorreu.
O diplomata João Solano Carneiro da Cunha, coordenador-geral da União de Nações Sul-Americanas e Grupo do Rio (CGSUL), ligado ao Ministério de Relações Exteriores, afirma que a criação da Unasul pretende "não apenas fortalecer os países, mas todo o continente".
- A Unasul é um bloco que não se restringe somente aos aspectos comercial e financeiro. Os objetivos da Unasul são mais amplos, mais ambiciosos, passam muito pela área social, de educação, de saúde, não é uma mero acordo de liberalização de comércio ou de temas econômicos. A idéia é estar de acordo com o que se faz no mundo inteiro hoje. A América do Sul foi o último continente a concluir esse processo em torno da formação de um bloco. Ainda tem muito caminho pela frente - explica.
Peru e Colômbia mantêm Tratados de Livre Comércio com os Estados Unidos, ao passo que países como Bolívia, Equador e Venezuela são explicitamente contra esse tipo de acordo econômico. Além disso, Equador e Colômbia ainda estão com as relações diplomáticas rompidas após a intervenção do exército colombiano em território equatoriano, que culminou na morte de número 2 das Farc, Raúl Reyes. Questionado sobre as dificuldades que estes aspectos representariam para o sucesso da Unasul, Solano responde:
- Toda experiência é bem-vinda, soma, toda experiência acrescenta. Isso tudo se negocia.
Conselho de Defesa
Na reunião da última sexta-feira - que selou a formalização da Unasul - foi estipulado o prazo de 90 dias para que autoridades ligadas à área da Defesa discutam uma agenda para a reunião ministerial entre os ministros da Defesa de cada país da América do Sul.
O que exatamente este Conselho irá fazer, o coordenador-geral da CGSUL diz que "ninguém sabe":
- Eu não sei e ninguém sabe. A idéia do Conselho de Defesa é promover uma reunião de ministros de Defesa para que eles discutam onde podem atuar melhor, onde há complementaridade entre políticas de defesa, indústria bélica, onde pode haver mais cooperação.
De acordo com Solano, a Unasul prevê que os chefes de Estado convoquem reuniões setoriais, como já existe em Energia, o que deu origem ao Conselho Energético Sul-americano. E ressalta que, a priori, a proposta não é a criação de um exército comum.
Terra Magazine
- Bolovo
- Sênior

- Mensagens: 28560
- Registrado em: Ter Jul 12, 2005 11:31 pm
- Agradeceu: 547 vezes
- Agradeceram: 442 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
AHHHHHHHH!!! Vocês viram a bandeira da UNASUL?!?!

Eu sabia! Malditos esquerdistas, querem trasnformar isso aqui no Vietnam!



Não da pra confiar em mais ninguém hoje em dia.

Eu sabia! Malditos esquerdistas, querem trasnformar isso aqui no Vietnam!



Não da pra confiar em mais ninguém hoje em dia.
"Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu."
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
- delmar
- Sênior

- Mensagens: 5257
- Registrado em: Qui Jun 16, 2005 10:24 pm
- Localização: porto alegre
- Agradeceu: 206 vezes
- Agradeceram: 504 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
Sem querer provocar, mas já provocando....De onde saiu esta bandeira da UNASUL? Não li nada, até este exato momento, sobre bandeira em nenhum lugar. Algum maluco inventou isto e colocou na rede.
saudações
saudações
Todas coisas que nós ouvimos são uma opinião, não um fato. Todas coisas que nós vemos são uma perspectiva, não a verdade. by Marco Aurélio, imperador romano.
- Bolovo
- Sênior

- Mensagens: 28560
- Registrado em: Ter Jul 12, 2005 11:31 pm
- Agradeceu: 547 vezes
- Agradeceram: 442 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
delmar escreveu:Sem querer provocar, mas já provocando....De onde saiu esta bandeira da UNASUL? Não li nada, até este exato momento, sobre bandeira em nenhum lugar. Algum maluco inventou isto e colocou na rede.
saudações

"Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu."
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
- Tigershark
- Sênior

- Mensagens: 4098
- Registrado em: Seg Jul 09, 2007 3:39 pm
- Localização: Rio de Janeiro - Brasil
- Agradeceu: 2 vezes
- Agradeceram: 1 vez
- Bolovo
- Sênior

- Mensagens: 28560
- Registrado em: Ter Jul 12, 2005 11:31 pm
- Agradeceu: 547 vezes
- Agradeceram: 442 vezes
Re: GEOPOLÍTICA
Foi daí que peguei.Tigershark escreveu:Aí vai outra referencia para a bandeira:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o ... Americanas
O cara fez uma bandeira baseada naquela da foto que postei.
"Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu."
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)