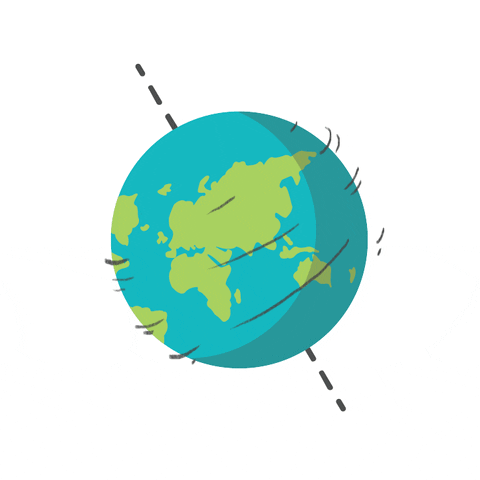A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Moderador: Conselho de Moderação
- Bolovo
- Sênior

- Mensagens: 28560
- Registrado em: Ter Jul 12, 2005 11:31 pm
- Agradeceu: 547 vezes
- Agradeceram: 442 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Uma coisa que eu não gosto no MAG é que ele é muito idealista, ele diz as coisas como ele quer que seja e não como elas são. Falta um pouco de pragmatismo para esse cara, ele é muito ideologo, e as vezes parece que as falas deles são feitas de muita emoção e pouca razão.
"Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu."
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
Darcy Ribeiro (1922 - 1997)
- Penguin
- Sênior

- Mensagens: 18983
- Registrado em: Seg Mai 19, 2003 10:07 pm
- Agradeceu: 5 vezes
- Agradeceram: 374 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
FSP, 09/12
São Paulo, quarta-feira, 09 de dezembro de 2009
"Brasil varia do enigma à vergonha no front externo"
Opinião é do renomado colunista de temas latino-americanos Andres Oppenheimer
Para americano, governo brasileiro errou em relação à crise em Honduras e ao receber o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad
SÉRGIO DÁVILA
DE WASHINGTON
A política externa brasileira, em seus melhores momentos, é um enigma; nos piores, uma vergonha. Nesse campo, o Brasil frequentemente se parece com um país de Quarto Mundo.
Ambas as afirmações são do mais respeitado colunista de assuntos latino-americanos da imprensa americana, Andres Oppenheimer, cujos textos são publicados no "Miami Herald" e em 60 outros jornais pelo mundo.
O jornalista americano de origem argentina, autor do recém-lançado "Los Estados Desunidos de Latinoamérica" (editora Debate), ainda inédito no Brasil, e de "Contos do Vigário" (editora Record, 2007), entre outros livros, falou à Folha anteontem, por telefone, de Miami. Leia trechos abaixo:
FOLHA - Em sua coluna mais recente, o sr. escreveu que Brasil, EUA e OEA [Organização dos Estados Americanos] erraram no caso de Honduras. O que poderia ter sido feito e não foi?
ANDRES OPPENHEIMER - O Brasil deveria ter sido mais cauteloso antes de começar a grita de que não reconheceria as eleições em Honduras. É uma posição ridícula: por um lado, o país pede a suspensão do embargo dos EUA a Cuba, país que não tem eleição multipartidária há 50 anos; por outro, quer impor sanções econômicas a Honduras, que realizou eleições multipartidárias. Já os EUA nos deixaram coçando a cabeça, porque o que eles fizeram foi bastante confuso. O que deveriam ter feito diferente no começo era condenar o golpe, como fizeram, mas marcar posição de que havia dois culpados aqui, o presidente interino Roberto Micheletti e o presidente deposto Manuel Zelaya, que estava orquestrando seu próprio golpe constitucional à la Hugo Chávez. E ter uma mensagem mais clara. Por fim, a OEA foi a primeira a vir com uma posição unilateral condenando o golpe, o que foi certo, também, mas não lidava com o que Zelaya vinha tentando fazer, que era passar por cima de algumas instituições e convocar um referendo constitucional e se reeleger.
FOLHA - O sr. menciona a posição dúbia americana. Seria fruto de a política para a região estar refém das divisões políticas internas?
OPPENHEIMER - Acho que tem mais a ver com quem está no comando dessa política. Não esqueçamos que, durante toda a crise hondurenha e até o mês passado, ninguém estava à frente do setor para a América Latina no Departamento de Estado. Então, quase toda a política foi comandada da Casa Branca, por Dan Restrepo [assessor de Barack Obama para a região]. Eu gosto da política em geral do governo Obama, mas infelizmente ela não é muito focada na América Latina.
Primeiro, porque o governo tem problemas maiores, como Iraque, Afeganistão. Mas também porque ninguém ali tem interesse pessoal na região. Eu entrevistei Obama duas vezes. Na primeira, em 2007, perguntei quais eram os três presidentes latino-americanos que mais respeitava e ele não conseguiu mencionar nenhum. Disse que tinha muito interesse pela presidente do Chile, lembrava-se de que era uma mulher, mas não o seu nome. Da segunda, em 2008, já tinha se preparado, assim que sentou citou cinco nomes de presidentes. [Risos]
FOLHA - Como avalia a visita do presidente do Irã ao Brasil?
OPPENHEIMER - Foi um dos piores erros da história recente da América Latina, especialmente do Brasil, um país que cada vez mais pessoas, e eu me incluo entre elas, vê como um modelo para a região em vários sentidos. No momento em que todo o mundo está tentando mandar uma mensagem ao Irã de que eles não podem desenvolver armas nucleares, o Brasil dá a legitimidade que eles buscam. A política externa brasileira, em seus melhores momentos, é um enigma; nos piores, uma vergonha.
FOLHA - O sr. acha que o Brasil está pronto para o papel que deseja ter na arena internacional?
OPPENHEIMER - O país é um modelo em muitos sentidos para o resto da América Latina. Mostrou que se pode ter mudança política com estabilidade econômica, que se pode ter um governo de esquerda que não assusta investidores e ao mesmo tempo tem programas muito eficientes para ajudar os pobres, é um modelo em participação de ONGs em políticas públicas. Nisso e em muitas outras coisas é um país crescentemente de Primeiro Mundo. Em sua política externa, frequentemente se parece com um país de Quarto Mundo.
São Paulo, quarta-feira, 09 de dezembro de 2009
"Brasil varia do enigma à vergonha no front externo"
Opinião é do renomado colunista de temas latino-americanos Andres Oppenheimer
Para americano, governo brasileiro errou em relação à crise em Honduras e ao receber o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad
SÉRGIO DÁVILA
DE WASHINGTON
A política externa brasileira, em seus melhores momentos, é um enigma; nos piores, uma vergonha. Nesse campo, o Brasil frequentemente se parece com um país de Quarto Mundo.
Ambas as afirmações são do mais respeitado colunista de assuntos latino-americanos da imprensa americana, Andres Oppenheimer, cujos textos são publicados no "Miami Herald" e em 60 outros jornais pelo mundo.
O jornalista americano de origem argentina, autor do recém-lançado "Los Estados Desunidos de Latinoamérica" (editora Debate), ainda inédito no Brasil, e de "Contos do Vigário" (editora Record, 2007), entre outros livros, falou à Folha anteontem, por telefone, de Miami. Leia trechos abaixo:
FOLHA - Em sua coluna mais recente, o sr. escreveu que Brasil, EUA e OEA [Organização dos Estados Americanos] erraram no caso de Honduras. O que poderia ter sido feito e não foi?
ANDRES OPPENHEIMER - O Brasil deveria ter sido mais cauteloso antes de começar a grita de que não reconheceria as eleições em Honduras. É uma posição ridícula: por um lado, o país pede a suspensão do embargo dos EUA a Cuba, país que não tem eleição multipartidária há 50 anos; por outro, quer impor sanções econômicas a Honduras, que realizou eleições multipartidárias. Já os EUA nos deixaram coçando a cabeça, porque o que eles fizeram foi bastante confuso. O que deveriam ter feito diferente no começo era condenar o golpe, como fizeram, mas marcar posição de que havia dois culpados aqui, o presidente interino Roberto Micheletti e o presidente deposto Manuel Zelaya, que estava orquestrando seu próprio golpe constitucional à la Hugo Chávez. E ter uma mensagem mais clara. Por fim, a OEA foi a primeira a vir com uma posição unilateral condenando o golpe, o que foi certo, também, mas não lidava com o que Zelaya vinha tentando fazer, que era passar por cima de algumas instituições e convocar um referendo constitucional e se reeleger.
FOLHA - O sr. menciona a posição dúbia americana. Seria fruto de a política para a região estar refém das divisões políticas internas?
OPPENHEIMER - Acho que tem mais a ver com quem está no comando dessa política. Não esqueçamos que, durante toda a crise hondurenha e até o mês passado, ninguém estava à frente do setor para a América Latina no Departamento de Estado. Então, quase toda a política foi comandada da Casa Branca, por Dan Restrepo [assessor de Barack Obama para a região]. Eu gosto da política em geral do governo Obama, mas infelizmente ela não é muito focada na América Latina.
Primeiro, porque o governo tem problemas maiores, como Iraque, Afeganistão. Mas também porque ninguém ali tem interesse pessoal na região. Eu entrevistei Obama duas vezes. Na primeira, em 2007, perguntei quais eram os três presidentes latino-americanos que mais respeitava e ele não conseguiu mencionar nenhum. Disse que tinha muito interesse pela presidente do Chile, lembrava-se de que era uma mulher, mas não o seu nome. Da segunda, em 2008, já tinha se preparado, assim que sentou citou cinco nomes de presidentes. [Risos]
FOLHA - Como avalia a visita do presidente do Irã ao Brasil?
OPPENHEIMER - Foi um dos piores erros da história recente da América Latina, especialmente do Brasil, um país que cada vez mais pessoas, e eu me incluo entre elas, vê como um modelo para a região em vários sentidos. No momento em que todo o mundo está tentando mandar uma mensagem ao Irã de que eles não podem desenvolver armas nucleares, o Brasil dá a legitimidade que eles buscam. A política externa brasileira, em seus melhores momentos, é um enigma; nos piores, uma vergonha.
FOLHA - O sr. acha que o Brasil está pronto para o papel que deseja ter na arena internacional?
OPPENHEIMER - O país é um modelo em muitos sentidos para o resto da América Latina. Mostrou que se pode ter mudança política com estabilidade econômica, que se pode ter um governo de esquerda que não assusta investidores e ao mesmo tempo tem programas muito eficientes para ajudar os pobres, é um modelo em participação de ONGs em políticas públicas. Nisso e em muitas outras coisas é um país crescentemente de Primeiro Mundo. Em sua política externa, frequentemente se parece com um país de Quarto Mundo.
Sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos que circulam pelo mundo.
Carlo M. Cipolla
Carlo M. Cipolla
- marcelo l.
- Sênior

- Mensagens: 6097
- Registrado em: Qui Out 15, 2009 12:22 am
- Agradeceu: 138 vezes
- Agradeceram: 66 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Andres Oppenheimer é um grande jornalista, mas devemos entender que a posição dele é americana e acredita que o papel da região deve ser apoio ao grande irmão do norte, o otimismo dele na última crise deixa no chinelo a marolinha do Lula.
"If the people who marched actually voted, we wouldn’t have to march in the first place".
"(Poor) countries are poor because those who have power make choices that create poverty".
ubi solitudinem faciunt pacem appellant
"(Poor) countries are poor because those who have power make choices that create poverty".
ubi solitudinem faciunt pacem appellant
- Ilya Ehrenburg
- Sênior

- Mensagens: 2449
- Registrado em: Ter Set 08, 2009 5:47 pm
- Agradeceram: 1 vez
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Opinião de um Argentino, capacho do Império... Francamente!
Não se tem razão quando se diz que o tempo cura tudo: de repente, as velhas dores tornam-se lancinantes e só morrem com o homem.
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
- Beronha
- Sênior

- Mensagens: 2954
- Registrado em: Ter Mar 27, 2007 5:37 pm
- Agradeceu: 1 vez
- Agradeceram: 7 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Ilya Ehrenburg escreveu:Opinião de um Argentino, capacho do Império... Francamente!
Porque?
me pareceu consistente a análise!
- Ilya Ehrenburg
- Sênior

- Mensagens: 2449
- Registrado em: Ter Set 08, 2009 5:47 pm
- Agradeceram: 1 vez
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Existe consistência em dor de cotovelo?Beronha escreveu:Ilya Ehrenburg escreveu:Opinião de um Argentino, capacho do Império... Francamente!
Porque?
me pareceu consistente a análise!
Não se tem razão quando se diz que o tempo cura tudo: de repente, as velhas dores tornam-se lancinantes e só morrem com o homem.
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
- Dieneces
- Sênior

- Mensagens: 6524
- Registrado em: Seg Abr 09, 2007 1:50 pm
- Localização: São Gabriel , RS
- Agradeceu: 9 vezes
- Agradeceram: 10 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Esse Openrai tem lido meus textos aqui no DB.Isso é plágio .
Brotei no Ventre da Pampa,que é Pátria na minha Terra/Sou resumo de uma Guerra,que ainda tem importância/Sou Raiz,sou Sangue,sou Verso/Sou maior que a História Grega/Eu sou Gaúcho e me chega,p'ra ser Feliz no Universo.
- Ilya Ehrenburg
- Sênior

- Mensagens: 2449
- Registrado em: Ter Set 08, 2009 5:47 pm
- Agradeceram: 1 vez
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Dor de cotovelo em colorados, como se sabe, muita consistência possui.Dieneces escreveu:Esse Openrai tem lido meus textos aqui no DB.Isso é plágio .
Não se tem razão quando se diz que o tempo cura tudo: de repente, as velhas dores tornam-se lancinantes e só morrem com o homem.
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
Ilya Ehrenburg
Uma pena incansável e combatente, contra as hordas imperialistas, sanguinárias e assassinas!
- Marino
- Sênior

- Mensagens: 15667
- Registrado em: Dom Nov 26, 2006 4:04 pm
- Agradeceu: 134 vezes
- Agradeceram: 630 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
ESP:
A diplomacia da provocação
O chanceler Celso Amorim deixou para o assessor internacional do presidente Lula, Marco Aurélio Garcia, e o secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, a missão de se reunir com o secretário-assistente para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Arturo Valenzuela, que começou por Brasília a sua primeira visita oficial à região. Partindo da premissa de que um diplomata de sua importância só deve falar com seus iguais - e daí para cima -, Amorim há de ter imaginado que, se ele próprio se sentasse à mesa com a principal autoridade do Departamento de Estado para as Américas, estaria dando uma demonstração pública de apequenamento do Brasil diante dos EUA. Como se a estatura de uma nação na cena internacional tivesse algo a ganhar com miudezas dessa ordem. Diplomata habilidoso, Valenzuela não se deu por achado. Após duas horas com o assessor Garcia, declarou que "foi uma conversa ótima. Temos diferenças que são normais". A resposta de seu interlocutor foi igualmente amável e conciliadora.
Puerilidades pontuam a política do governo Lula em relação ao país que mais conta no mundo. Há poucas semanas, Brasília cometeu a impropriedade de divulgar uma mensagem reservada de Obama a Lula, que entrou no fax do Planalto, não por acaso, na véspera da visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Vista da perspectiva de Washington, a carta era uma deferência ao Brasil. Para piorar as coisas, o assessor Garcia se permitiu dizer que a conduta do presidente americano deixava um "sabor de decepção". Ironicamente, quando o titular da Casa Branca se chamava George W. Bush, a atitude brasileira diante dos EUA era muito mais amena. O "cara", como diria o seu sucessor, se dava melhor com o texano ronceiro. Lula, como se sabe, tem horror a líderes cerebrais e uma compulsão para se mostrar superior a eles. Essa circunstância dá um sabor de provocação à diplomacia lulista no que diga respeito aos americanos.
Não bastasse a megalomania que a orienta, o presidente parece convencido de que a projeção do País no mundo será tanto maior quanto mais a política externa brasileira se caracterizar pelo contencioso com os EUA, para além das divergências normais no relacionamento bilateral. Essa tolice é insuflada por um antiamericanismo reminiscente dos anos Geisel, sob a ditadura militar. Confundindo diplomacia assertiva com a busca de pretextos para criar marola, o Itamaraty só muito raramente se esforça para minimizar ostensivamente os atritos com Washington. Enquanto isso, enfatizando a política de diálogo de Obama, o seu enviado para a América Latina investiu na distensão. "Apenas temos diferentes avaliações sobre alguns tipos de assuntos", disse Valenzuela a jornalistas brasileiros antes de embarcar. O primeiro desses assuntos é a política nuclear do Irã.
Mais do que a própria acolhida a Ahmadinejad, o que calou nos EUA foi o endosso de Lula ao inquietante projeto iraniano. Teerã, declarou, "tem o direito de desenvolver um programa nuclear com fins pacíficos" - isso depois de tudo que o país fez para ocultar dos inspetores internacionais as suas atividades no setor, das sanções que lhe foram impostas pelo Conselho de Segurança da ONU e da sua recusa de enviar urânio ao exterior de onde o receberia de volta enriquecido o suficiente apenas para aplicações civis. Lula imagina que o Brasil poderia mediar entre o Irã e os EUA. É a mesma soberba que o leva a falar em promover a paz entre israelenses e palestinos, esquecido de que nenhuma iniciativa do Itamaraty de resolver desavenças mesmo entre os vizinhos deu algum resultado - nem entre a Argentina e o Uruguai, na questão das papeleiras, nem entre a Venezuela e a Colômbia, por causa do acordo militar colombiano-americano.
O Brasil, subordinando-se indiretamente a Hugo Chávez, respalda a Unasul, que não passa de uma pífia tentativa de criar um foro regional sem a presença dos EUA. No caso da crise hondurenha, o realismo de Washington, ao reconhecer que as eleições presidenciais zeraram o problema da deposição do presidente Manuel Zelaya, deixou patente a futilidade do alinhamento brasileiro com o dono do chapelão que há três meses adorna a embaixada em Tegucigalpa. A fixação antiamericana do Itamaraty é um chavismo de segunda.
A diplomacia da provocação
O chanceler Celso Amorim deixou para o assessor internacional do presidente Lula, Marco Aurélio Garcia, e o secretário-geral do Itamaraty, Antônio Patriota, a missão de se reunir com o secretário-assistente para Assuntos do Hemisfério Ocidental dos EUA, Arturo Valenzuela, que começou por Brasília a sua primeira visita oficial à região. Partindo da premissa de que um diplomata de sua importância só deve falar com seus iguais - e daí para cima -, Amorim há de ter imaginado que, se ele próprio se sentasse à mesa com a principal autoridade do Departamento de Estado para as Américas, estaria dando uma demonstração pública de apequenamento do Brasil diante dos EUA. Como se a estatura de uma nação na cena internacional tivesse algo a ganhar com miudezas dessa ordem. Diplomata habilidoso, Valenzuela não se deu por achado. Após duas horas com o assessor Garcia, declarou que "foi uma conversa ótima. Temos diferenças que são normais". A resposta de seu interlocutor foi igualmente amável e conciliadora.
Puerilidades pontuam a política do governo Lula em relação ao país que mais conta no mundo. Há poucas semanas, Brasília cometeu a impropriedade de divulgar uma mensagem reservada de Obama a Lula, que entrou no fax do Planalto, não por acaso, na véspera da visita do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. Vista da perspectiva de Washington, a carta era uma deferência ao Brasil. Para piorar as coisas, o assessor Garcia se permitiu dizer que a conduta do presidente americano deixava um "sabor de decepção". Ironicamente, quando o titular da Casa Branca se chamava George W. Bush, a atitude brasileira diante dos EUA era muito mais amena. O "cara", como diria o seu sucessor, se dava melhor com o texano ronceiro. Lula, como se sabe, tem horror a líderes cerebrais e uma compulsão para se mostrar superior a eles. Essa circunstância dá um sabor de provocação à diplomacia lulista no que diga respeito aos americanos.
Não bastasse a megalomania que a orienta, o presidente parece convencido de que a projeção do País no mundo será tanto maior quanto mais a política externa brasileira se caracterizar pelo contencioso com os EUA, para além das divergências normais no relacionamento bilateral. Essa tolice é insuflada por um antiamericanismo reminiscente dos anos Geisel, sob a ditadura militar. Confundindo diplomacia assertiva com a busca de pretextos para criar marola, o Itamaraty só muito raramente se esforça para minimizar ostensivamente os atritos com Washington. Enquanto isso, enfatizando a política de diálogo de Obama, o seu enviado para a América Latina investiu na distensão. "Apenas temos diferentes avaliações sobre alguns tipos de assuntos", disse Valenzuela a jornalistas brasileiros antes de embarcar. O primeiro desses assuntos é a política nuclear do Irã.
Mais do que a própria acolhida a Ahmadinejad, o que calou nos EUA foi o endosso de Lula ao inquietante projeto iraniano. Teerã, declarou, "tem o direito de desenvolver um programa nuclear com fins pacíficos" - isso depois de tudo que o país fez para ocultar dos inspetores internacionais as suas atividades no setor, das sanções que lhe foram impostas pelo Conselho de Segurança da ONU e da sua recusa de enviar urânio ao exterior de onde o receberia de volta enriquecido o suficiente apenas para aplicações civis. Lula imagina que o Brasil poderia mediar entre o Irã e os EUA. É a mesma soberba que o leva a falar em promover a paz entre israelenses e palestinos, esquecido de que nenhuma iniciativa do Itamaraty de resolver desavenças mesmo entre os vizinhos deu algum resultado - nem entre a Argentina e o Uruguai, na questão das papeleiras, nem entre a Venezuela e a Colômbia, por causa do acordo militar colombiano-americano.
O Brasil, subordinando-se indiretamente a Hugo Chávez, respalda a Unasul, que não passa de uma pífia tentativa de criar um foro regional sem a presença dos EUA. No caso da crise hondurenha, o realismo de Washington, ao reconhecer que as eleições presidenciais zeraram o problema da deposição do presidente Manuel Zelaya, deixou patente a futilidade do alinhamento brasileiro com o dono do chapelão que há três meses adorna a embaixada em Tegucigalpa. A fixação antiamericana do Itamaraty é um chavismo de segunda.
"A reconquista da soberania perdida não restabelece o status quo."
Barão do Rio Branco
Barão do Rio Branco
- Marino
- Sênior

- Mensagens: 15667
- Registrado em: Dom Nov 26, 2006 4:04 pm
- Agradeceu: 134 vezes
- Agradeceram: 630 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Brasil se abstém de votar contra Irã e Coreia
Adriana Carranca
A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou ontem duas resoluções contra a violação de direitos humanos no Irã e na Coreia do Norte. Em ambas, o Brasil se absteve, sob o argumento de dar prioridade ao diálogo e cooperação à pressão sobre os países. Com projeção cada vez maior no exterior e prestes a assumir, em 2010, uma vaga rotativa no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil está na mira dos países democráticos e entidades internacionais.
Eles exigem uma posição mais firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a tortura, prisões arbitrárias, execuções extrajudiciais e a falta de liberdade e Justiça da qual Irã e Coreia do Norte são acusados. "As abstenções são inaceitáveis. Mostram a tendência cada vez mais clara de que o Brasil não quer se posicionar sobre a violação dos direitos humanos em países específicos", diz a coordenadora de relações internacionais da organização Conectas Direitos Humanos, Lucia Nader.
No discurso, o Brasil reconhece as violações, mas prefere levar o debate para o Conselho de Direitos Humanos (CDH). "Temos privilegiado a revisão periódica dos países no CDH", disse ao Estado um a fonte do Itamaraty em Brasília. Esse ano, porém, o Brasil também se absteve de votar em uma resolução do CDH sobre violações na Coreia do Norte.
As acusações contra o Irã referem-se, principalmente, ao período após as eleições presidenciais, em junho, em que o presidente Mahmoud Ahmadinejad conseguiu um segundo mandato. Partidários do reformista Mir-Hossein Mousavi foram às ruas protestar contra possíveis fraudes. O governo respondeu com prisões sem julgamento, perseguição aos meios de comunicação e detenção de funcionários de embaixadas, segundo o texto da resolução a ONU.
O documento cita a condenação de menores de 18 anos à pena de morte e a perseguição de ativistas, jornalistas e advogados como violações permanentes no Irã e refere-se à minoria Baha"i, que teve sete líderes presos entre março e maio de 2008. "Aceitamos a soberania dos países, mas os direitos humanos não podem ser relativizados", diz Flávio Rassekh, representante da fé Baha"i em São Paulo.
A votação de uma terceira resolução, contra Mianmar (ex-Birmânia), prevista para ontem foi adiada. A tendência é a de que o Brasil se abstenha de novo, mantendo seu voto na comissão da ONU onde as resoluções foram aprovadas antes de levadas à Assembleia-Geral. A polêmica política de abstenção do Brasil deu-se em votações anteriores sobre violações de direitos humanos na Bielo-Rússia, Chechênia, China, Congo, Sri Lanka e Sudão.
Adriana Carranca
A Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou ontem duas resoluções contra a violação de direitos humanos no Irã e na Coreia do Norte. Em ambas, o Brasil se absteve, sob o argumento de dar prioridade ao diálogo e cooperação à pressão sobre os países. Com projeção cada vez maior no exterior e prestes a assumir, em 2010, uma vaga rotativa no Conselho de Segurança da ONU, o Brasil está na mira dos países democráticos e entidades internacionais.
Eles exigem uma posição mais firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a tortura, prisões arbitrárias, execuções extrajudiciais e a falta de liberdade e Justiça da qual Irã e Coreia do Norte são acusados. "As abstenções são inaceitáveis. Mostram a tendência cada vez mais clara de que o Brasil não quer se posicionar sobre a violação dos direitos humanos em países específicos", diz a coordenadora de relações internacionais da organização Conectas Direitos Humanos, Lucia Nader.
No discurso, o Brasil reconhece as violações, mas prefere levar o debate para o Conselho de Direitos Humanos (CDH). "Temos privilegiado a revisão periódica dos países no CDH", disse ao Estado um a fonte do Itamaraty em Brasília. Esse ano, porém, o Brasil também se absteve de votar em uma resolução do CDH sobre violações na Coreia do Norte.
As acusações contra o Irã referem-se, principalmente, ao período após as eleições presidenciais, em junho, em que o presidente Mahmoud Ahmadinejad conseguiu um segundo mandato. Partidários do reformista Mir-Hossein Mousavi foram às ruas protestar contra possíveis fraudes. O governo respondeu com prisões sem julgamento, perseguição aos meios de comunicação e detenção de funcionários de embaixadas, segundo o texto da resolução a ONU.
O documento cita a condenação de menores de 18 anos à pena de morte e a perseguição de ativistas, jornalistas e advogados como violações permanentes no Irã e refere-se à minoria Baha"i, que teve sete líderes presos entre março e maio de 2008. "Aceitamos a soberania dos países, mas os direitos humanos não podem ser relativizados", diz Flávio Rassekh, representante da fé Baha"i em São Paulo.
A votação de uma terceira resolução, contra Mianmar (ex-Birmânia), prevista para ontem foi adiada. A tendência é a de que o Brasil se abstenha de novo, mantendo seu voto na comissão da ONU onde as resoluções foram aprovadas antes de levadas à Assembleia-Geral. A polêmica política de abstenção do Brasil deu-se em votações anteriores sobre violações de direitos humanos na Bielo-Rússia, Chechênia, China, Congo, Sri Lanka e Sudão.
"A reconquista da soberania perdida não restabelece o status quo."
Barão do Rio Branco
Barão do Rio Branco
- Marino
- Sênior

- Mensagens: 15667
- Registrado em: Dom Nov 26, 2006 4:04 pm
- Agradeceu: 134 vezes
- Agradeceram: 630 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Não sei se este artigo cabia aqui, mas resolvi postar (tb no tópico de geopolítica).
==================================
Graves vulnerabilidades na diplomacia e defesa
Luiz Eduardo Rocha Paiva
O Brasil é visto como potência emergente no campo econômico e adquiriu peso político para ser ouvido globalmente. Essa ascensão implica assumir responsabilidades e gera novas necessidades para o País que o colocarão em rota de colisão com atores poderosos, particularmente EUA, China, Rússia, União Europeia e Japão - eixo do poder que conduz os destinos do mundo -, todos eles potências nos campos político, econômico, militar e científico-tecnológico. O crescente poder econômico nos faz ser ouvidos, mas não basta para sermos acatados.
Potências são países com capacidade para defender a soberania, o patrimônio e a integridade territorial contra ameaças estrangeiras, projetar-se externamente para garantir interesses importantes e participar com autoridade de decisões em fóruns internacionais. Existem condições que contribuem decisivamente para lograr tal status. Vasto território rico em recursos naturais e uma grande população. Poder econômico, militar e científico-tecnológico. Permanência de políticas e estratégias durante sucessivos governos para a consecução dos objetivos fundamentais, condição difícil em países divididos por ideologias, etnias e religiões inconciliáveis. Educação integral - conhecimento, cultura, ética e civismo -, raiz da coesão nacional e de uma liderança com visão estratégica e autoridade moral dentro e fora do país.
A liderança brasileira manifesta o propósito de ombrear o País ao eixo do poder, mas não garante a constância dos recursos orçamentários para fortalecer as Forças Armadas, de modo a reduzir oportunamente o hiato com as potências do eixo nos campos militar e científico-tecnológico. O Brasil poderá viver em curto e médio prazos conflitos em que, por não dispor de poder militar para respaldar intenções do Estado, terá de limitar ou abdicar de interesses importantes ou, então, buscar alianças para defendê-los, com o inconveniente de que elas cobrarão um preço elevado. Mas essa não é a nossa única vulnerabilidade.
O Brasil ainda é um país em formação, pois falta integrar a imensa Amazônia, área de enorme valor por sua riqueza e posição geoestratégica, onde a plena soberania será fator determinante para nossa inclusão no eixo do poder. A liderança brasileira, sem visão de futuro, não entende que interessa àquele eixo compartilhar a soberania sobre a Amazônia não só pelos seus recursos e sua posição, mas também para impedir a ascensão do Brasil como potência rival. Assim, submete-se à pressão internacional exercida por meio de uma estratégia indireta, progressiva e velada, particularmente na questão indígena, e adota políticas que comprometem a soberania e o patrimônio amazônico. Mas essa não é a nossa última vulnerabilidade.
As relações internacionais são como um teatro de operações onde a batalha é pelo poder. É correto dizer, ao contrário de Clausewitz, que a política é a continuação da guerra por outros meios. A derrota nesse jogo tem um custo elevado para um Estado, desde a perda de status internacional até o seu próprio desaparecimento - vide Roma na Antiguidade e Reino Unido, Alemanha e URSS no século 20. Portanto, é natural priorizar o realismo pragmático sobre o idealismo em política exterior. Tal desequilíbrio aumentou graças ao egocentrismo, materialismo, consumismo e prepotência, antivalores em voga transmitidos do indivíduo para a nação e daí para as estratégias nas relações entre países, sempre com prejuízo dos mais fracos.
Há um anseio mundial pela valorização do humanitarismo, com ênfase em justiça e solidariedade, no sentido de reduzir as grandes diferenças entre nações ricas e pobres. Abre-se o espaço para um discurso idealista-realista de uma potência emergente que, preservando o interesse nacional, atraia o apoio às suas demandas pelo expressivo universo de países periféricos dos fóruns internacionais, bem como ponha os países mais fortes na defensiva. Não é um seguro total contra as potências do eixo, mas limita-lhes a liberdade de ação parcialmente, enquanto a potência emergente reduz suas vulnerabilidades.
A liderança nacional está inviabilizando a ocupação desse espaço por conduzir a política exterior pela linha ideológica socialista radical e jurássica do Foro de São Paulo, subordinando interesses nacionais aos partidários, e pelo discurso dúbio, que acerta ao condenar a prepotência e falta de solidariedade do eixo do poder, mas perde credibilidade ao endossar regimes ditatoriais que sufocam a liberdade, amordaçam a imprensa, prendem, torturam e matam opositores. Peca pela parcialidade mal disfarçada no conflito entre Colômbia e Venezuela, instando por moderação aos respectivos presidentes quando está claro que as provocações e ameaças partem do aliado Hugo Chávez. Erra ao interferir em Honduras desastradamente, recebendo contundentes respostas do povo hondurenho nas urnas, do Congresso e da Suprema Corte do país ao confirmarem a deposição de Manuel Zelaya. Mera incoerência ou hipocrisia?
Mas a maior vulnerabilidade é a enfermidade moral do País. A liderança é patrimonialista e se apodera ilegalmente dos bens públicos como se fossem de sua propriedade. Apoia-se na impunidade e na omissão da sociedade, que, sem esperança na Justiça, também assume a falta de ética e valores. Sociedade carente de exemplos e referências que, anestesiada, se contenta com a satisfação de necessidades básicas e a falsa noção de liberdade, que usa sem responsabilidade e disciplina, tornando-a um bem ilusório. Tudo isso debilita a coesão nacional e a autoridade moral de nossa liderança, condições para inserir o Brasil no cenário dos conflitos onde reina o eixo do poder. Só um choque de valores e um sistema educacional moral e profissionalmente recuperado poderão sanar essa gravíssima vulnerabilidade.
Luiz Eduardo Rocha Paiva, general da reserva, é professor emérito e ex-comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
==================================
Graves vulnerabilidades na diplomacia e defesa
Luiz Eduardo Rocha Paiva
O Brasil é visto como potência emergente no campo econômico e adquiriu peso político para ser ouvido globalmente. Essa ascensão implica assumir responsabilidades e gera novas necessidades para o País que o colocarão em rota de colisão com atores poderosos, particularmente EUA, China, Rússia, União Europeia e Japão - eixo do poder que conduz os destinos do mundo -, todos eles potências nos campos político, econômico, militar e científico-tecnológico. O crescente poder econômico nos faz ser ouvidos, mas não basta para sermos acatados.
Potências são países com capacidade para defender a soberania, o patrimônio e a integridade territorial contra ameaças estrangeiras, projetar-se externamente para garantir interesses importantes e participar com autoridade de decisões em fóruns internacionais. Existem condições que contribuem decisivamente para lograr tal status. Vasto território rico em recursos naturais e uma grande população. Poder econômico, militar e científico-tecnológico. Permanência de políticas e estratégias durante sucessivos governos para a consecução dos objetivos fundamentais, condição difícil em países divididos por ideologias, etnias e religiões inconciliáveis. Educação integral - conhecimento, cultura, ética e civismo -, raiz da coesão nacional e de uma liderança com visão estratégica e autoridade moral dentro e fora do país.
A liderança brasileira manifesta o propósito de ombrear o País ao eixo do poder, mas não garante a constância dos recursos orçamentários para fortalecer as Forças Armadas, de modo a reduzir oportunamente o hiato com as potências do eixo nos campos militar e científico-tecnológico. O Brasil poderá viver em curto e médio prazos conflitos em que, por não dispor de poder militar para respaldar intenções do Estado, terá de limitar ou abdicar de interesses importantes ou, então, buscar alianças para defendê-los, com o inconveniente de que elas cobrarão um preço elevado. Mas essa não é a nossa única vulnerabilidade.
O Brasil ainda é um país em formação, pois falta integrar a imensa Amazônia, área de enorme valor por sua riqueza e posição geoestratégica, onde a plena soberania será fator determinante para nossa inclusão no eixo do poder. A liderança brasileira, sem visão de futuro, não entende que interessa àquele eixo compartilhar a soberania sobre a Amazônia não só pelos seus recursos e sua posição, mas também para impedir a ascensão do Brasil como potência rival. Assim, submete-se à pressão internacional exercida por meio de uma estratégia indireta, progressiva e velada, particularmente na questão indígena, e adota políticas que comprometem a soberania e o patrimônio amazônico. Mas essa não é a nossa última vulnerabilidade.
As relações internacionais são como um teatro de operações onde a batalha é pelo poder. É correto dizer, ao contrário de Clausewitz, que a política é a continuação da guerra por outros meios. A derrota nesse jogo tem um custo elevado para um Estado, desde a perda de status internacional até o seu próprio desaparecimento - vide Roma na Antiguidade e Reino Unido, Alemanha e URSS no século 20. Portanto, é natural priorizar o realismo pragmático sobre o idealismo em política exterior. Tal desequilíbrio aumentou graças ao egocentrismo, materialismo, consumismo e prepotência, antivalores em voga transmitidos do indivíduo para a nação e daí para as estratégias nas relações entre países, sempre com prejuízo dos mais fracos.
Há um anseio mundial pela valorização do humanitarismo, com ênfase em justiça e solidariedade, no sentido de reduzir as grandes diferenças entre nações ricas e pobres. Abre-se o espaço para um discurso idealista-realista de uma potência emergente que, preservando o interesse nacional, atraia o apoio às suas demandas pelo expressivo universo de países periféricos dos fóruns internacionais, bem como ponha os países mais fortes na defensiva. Não é um seguro total contra as potências do eixo, mas limita-lhes a liberdade de ação parcialmente, enquanto a potência emergente reduz suas vulnerabilidades.
A liderança nacional está inviabilizando a ocupação desse espaço por conduzir a política exterior pela linha ideológica socialista radical e jurássica do Foro de São Paulo, subordinando interesses nacionais aos partidários, e pelo discurso dúbio, que acerta ao condenar a prepotência e falta de solidariedade do eixo do poder, mas perde credibilidade ao endossar regimes ditatoriais que sufocam a liberdade, amordaçam a imprensa, prendem, torturam e matam opositores. Peca pela parcialidade mal disfarçada no conflito entre Colômbia e Venezuela, instando por moderação aos respectivos presidentes quando está claro que as provocações e ameaças partem do aliado Hugo Chávez. Erra ao interferir em Honduras desastradamente, recebendo contundentes respostas do povo hondurenho nas urnas, do Congresso e da Suprema Corte do país ao confirmarem a deposição de Manuel Zelaya. Mera incoerência ou hipocrisia?
Mas a maior vulnerabilidade é a enfermidade moral do País. A liderança é patrimonialista e se apodera ilegalmente dos bens públicos como se fossem de sua propriedade. Apoia-se na impunidade e na omissão da sociedade, que, sem esperança na Justiça, também assume a falta de ética e valores. Sociedade carente de exemplos e referências que, anestesiada, se contenta com a satisfação de necessidades básicas e a falsa noção de liberdade, que usa sem responsabilidade e disciplina, tornando-a um bem ilusório. Tudo isso debilita a coesão nacional e a autoridade moral de nossa liderança, condições para inserir o Brasil no cenário dos conflitos onde reina o eixo do poder. Só um choque de valores e um sistema educacional moral e profissionalmente recuperado poderão sanar essa gravíssima vulnerabilidade.
Luiz Eduardo Rocha Paiva, general da reserva, é professor emérito e ex-comandante da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
"A reconquista da soberania perdida não restabelece o status quo."
Barão do Rio Branco
Barão do Rio Branco
- suntsé
- Sênior

- Mensagens: 3167
- Registrado em: Sáb Mar 27, 2004 9:58 pm
- Agradeceu: 232 vezes
- Agradeceram: 154 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Se o Brasil pretende ser uma liderança mundial, term que parar com a politica de ficar em sima do muro.
- Penguin
- Sênior

- Mensagens: 18983
- Registrado em: Seg Mai 19, 2003 10:07 pm
- Agradeceu: 5 vezes
- Agradeceram: 374 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
FSP, São Paulo, terça-feira, 22 de dezembro de 2009
TENDÊNCIAS/DEBATES
A diplomacia e a dissonância cognitiva
JORGE ZAVERUCHA
Em nome do novo protagonismo nas relações internacionais, a diplomacia brasileira superestimou suas possibilidades
CHICAGO, 1954 . A dona de casa Marion Keech pressentiu que o mundo acabaria em 21 de dezembro. Os membros de seu grupo de estudos sobre objetos não identificados acreditaram na sua visão de que seriam salvos por objeto intergalático e começaram os preparativos para o apocalipse. Desfizeram-se de tudo o que tivesse ligação terrena.
O professor de psicologia Leon Festinger leu o anúncio no jornal e infiltrou-se no grupo. Trabalhava com a hipótese de que, quanto maior e mais custosa uma decisão, mais firme a adesão das pessoas às suas escolhas. Mesmo que equivocadas.
O mundo não acabou nem a nave aterrissou na Terra. Restou a Keech dizer ao grupo que, devido ao fato de eles terem irradiado tanta energia positiva, o nosso planeta fora poupado do dilúvio.
A partir desse evento, Festinger desenvolveu uma série de estudos que resultaram na elaboração da sua teoria da dissonância cognitiva, que seria um conflito resultante da contradição entre as crenças de um indivíduo e suas ações. Por exemplo, opor-se à morte de animais, mas não deixar de comer churrasco.
Como esse conflito gera desconforto, as pessoas tenderiam a não enxergar aquilo que fosse desagradável para elas. Seria um modo de evitar que novas informações sirvam para questionar suas incoerências.
Os responsáveis pela diplomacia brasileira parecem sofrer do problema da dissonância cognitiva. Para justificar a aproximação do Brasil com o Irã, alegam que a política externa deve ser pragmática, em vez de normativa. Contudo, ao se posicionarem em relação ao governo de Honduras, usam argumentos principistas. Alegam que Manuel Zelaya foi vítima de um golpe militar e que isso não pode ser tolerado.
Isso embora um dos artífices da volta de Zelaya a Honduras tenha sido o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que por duas vezes tentou derrubar o governo constitucional de seu país. Afora a ausência de eleições multipartidárias em Cuba por mais de cinco décadas. E sem se esquecer da existência de ministro de Estado do governo Lula e de importantes aliados políticos que apoiaram o recente regime militar brasileiro.
O presidente Lula nega-se a reconhecer o resultado da última eleição presidencial, chamada antes do início desse imbróglio, por ter sido convocada por um presidente "golpista".
Ora, as eleições de Tancredo Neves e de Adolfo Suárez foram realizadas, respectivamente, pelo Colégio Eleitoral concebido pelo regime militar e pelas cortes franquistas. O vice-presidente eleito indiretamente e atual presidente do Congresso Nacional foi ativo defensor do regime militar no Legislativo. Trocou de lado ao pressentir os novos ventos. Tanto é que o general Figueiredo recusou-se a passar-lhe a faixa presidencial e saiu do Palácio do Alvorada para visitar no hospital o enfermo Tancredo Neves.
A diplomacia brasileira começou derrapando ao apenas condenar a retirada de Zelaya à ponta de baionetas do país, violando a Constituição local.
Esqueceu de também condenar a atitude de Zelaya de afrontar a Procuradoria, o advogado-geral, a Justiça e o Congresso de Honduras. Depois permitiu que Zelaya e seus correligionários usassem a sede da embaixada para fazer comício político contra o governo hondurenho.
Em nome do novo protagonismo nas relações internacionais, a diplomacia brasileira superestimou suas possibilidades. Em vez de sair dessa crise fortalecido, o Brasil vai perdendo terreno a cada dia.
Houve eleições e o partido pró-Zelaya foi derrotado. O Congresso, por sua vez, por 111 a 4, votou contra a volta de Zelaya ao poder. Ante tantas evidências de que seria preciso rever sua posição, o governo brasileiro afunda-se em suas incoerências.
Outra delas é necessitar do voto dos Estados Unidos para conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU, mas se indispor com o governo norte-americano em vários temas internacionais.
É clara a incompatibilidade entre essas duas cognições.
JORGE ZAVERUCHA , 54, doutor em ciência política pela Universidade de Chicago (EUA), é coordenador do Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas e da Criminalidade da Universidade Federal de Pernambuco. É autor de "FHC, Forças Armadas e Polícia: Entre o Autoritarismo e a Democracia", entre outras obras.
TENDÊNCIAS/DEBATES
A diplomacia e a dissonância cognitiva
JORGE ZAVERUCHA
Em nome do novo protagonismo nas relações internacionais, a diplomacia brasileira superestimou suas possibilidades
CHICAGO, 1954 . A dona de casa Marion Keech pressentiu que o mundo acabaria em 21 de dezembro. Os membros de seu grupo de estudos sobre objetos não identificados acreditaram na sua visão de que seriam salvos por objeto intergalático e começaram os preparativos para o apocalipse. Desfizeram-se de tudo o que tivesse ligação terrena.
O professor de psicologia Leon Festinger leu o anúncio no jornal e infiltrou-se no grupo. Trabalhava com a hipótese de que, quanto maior e mais custosa uma decisão, mais firme a adesão das pessoas às suas escolhas. Mesmo que equivocadas.
O mundo não acabou nem a nave aterrissou na Terra. Restou a Keech dizer ao grupo que, devido ao fato de eles terem irradiado tanta energia positiva, o nosso planeta fora poupado do dilúvio.
A partir desse evento, Festinger desenvolveu uma série de estudos que resultaram na elaboração da sua teoria da dissonância cognitiva, que seria um conflito resultante da contradição entre as crenças de um indivíduo e suas ações. Por exemplo, opor-se à morte de animais, mas não deixar de comer churrasco.
Como esse conflito gera desconforto, as pessoas tenderiam a não enxergar aquilo que fosse desagradável para elas. Seria um modo de evitar que novas informações sirvam para questionar suas incoerências.
Os responsáveis pela diplomacia brasileira parecem sofrer do problema da dissonância cognitiva. Para justificar a aproximação do Brasil com o Irã, alegam que a política externa deve ser pragmática, em vez de normativa. Contudo, ao se posicionarem em relação ao governo de Honduras, usam argumentos principistas. Alegam que Manuel Zelaya foi vítima de um golpe militar e que isso não pode ser tolerado.
Isso embora um dos artífices da volta de Zelaya a Honduras tenha sido o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que por duas vezes tentou derrubar o governo constitucional de seu país. Afora a ausência de eleições multipartidárias em Cuba por mais de cinco décadas. E sem se esquecer da existência de ministro de Estado do governo Lula e de importantes aliados políticos que apoiaram o recente regime militar brasileiro.
O presidente Lula nega-se a reconhecer o resultado da última eleição presidencial, chamada antes do início desse imbróglio, por ter sido convocada por um presidente "golpista".
Ora, as eleições de Tancredo Neves e de Adolfo Suárez foram realizadas, respectivamente, pelo Colégio Eleitoral concebido pelo regime militar e pelas cortes franquistas. O vice-presidente eleito indiretamente e atual presidente do Congresso Nacional foi ativo defensor do regime militar no Legislativo. Trocou de lado ao pressentir os novos ventos. Tanto é que o general Figueiredo recusou-se a passar-lhe a faixa presidencial e saiu do Palácio do Alvorada para visitar no hospital o enfermo Tancredo Neves.
A diplomacia brasileira começou derrapando ao apenas condenar a retirada de Zelaya à ponta de baionetas do país, violando a Constituição local.
Esqueceu de também condenar a atitude de Zelaya de afrontar a Procuradoria, o advogado-geral, a Justiça e o Congresso de Honduras. Depois permitiu que Zelaya e seus correligionários usassem a sede da embaixada para fazer comício político contra o governo hondurenho.
Em nome do novo protagonismo nas relações internacionais, a diplomacia brasileira superestimou suas possibilidades. Em vez de sair dessa crise fortalecido, o Brasil vai perdendo terreno a cada dia.
Houve eleições e o partido pró-Zelaya foi derrotado. O Congresso, por sua vez, por 111 a 4, votou contra a volta de Zelaya ao poder. Ante tantas evidências de que seria preciso rever sua posição, o governo brasileiro afunda-se em suas incoerências.
Outra delas é necessitar do voto dos Estados Unidos para conseguir um assento no Conselho de Segurança da ONU, mas se indispor com o governo norte-americano em vários temas internacionais.
É clara a incompatibilidade entre essas duas cognições.
JORGE ZAVERUCHA , 54, doutor em ciência política pela Universidade de Chicago (EUA), é coordenador do Núcleo de Estudos de Instituições Coercitivas e da Criminalidade da Universidade Federal de Pernambuco. É autor de "FHC, Forças Armadas e Polícia: Entre o Autoritarismo e a Democracia", entre outras obras.
Sempre e inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos que circulam pelo mundo.
Carlo M. Cipolla
Carlo M. Cipolla
- marcelo l.
- Sênior

- Mensagens: 6097
- Registrado em: Qui Out 15, 2009 12:22 am
- Agradeceu: 138 vezes
- Agradeceram: 66 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
Está saindo, mas esse processo é longo, tem muito a resgatar da imagem do país lá fora, por que somos reconhecidos como um dos países que menos tem apego a democracia...isso sai em pesquisas e é sempre analisado.suntsé escreveu:Se o Brasil pretende ser uma liderança mundial, term que parar com a politica de ficar em sima do muro.
Mas, o bloco brasileiro parece que já foi escolhido pelos votos, não tivemos um confronto com a China nos votos polêmicos, isso é gritante em comparação aos do EUA.
"If the people who marched actually voted, we wouldn’t have to march in the first place".
"(Poor) countries are poor because those who have power make choices that create poverty".
ubi solitudinem faciunt pacem appellant
"(Poor) countries are poor because those who have power make choices that create poverty".
ubi solitudinem faciunt pacem appellant
- Marino
- Sênior

- Mensagens: 15667
- Registrado em: Dom Nov 26, 2006 4:04 pm
- Agradeceu: 134 vezes
- Agradeceram: 630 vezes
Re: A Instituição que foi outrora a casa do Barão do Rio Branco
O inimigo americano
DEMÉTRIO MAGNOLI
Não é falsa, mas gera pouca luz a tese predominante sobre as motivações originais da política externa do governo Lula. Essa tese assegura que a política externa inaugurada na primeira posse de Lula foi concebida como uma compensação "de esquerda" à política econômica ortodoxa capitaneada por Antonio Palocci e Henrique Meirelles.
As coisas são mais complicadas. Numa ponta, a substituição de Palocci por Guido Mantega introduziu uma ambivalência na política econômica, que agora combina um núcleo ortodoxo com iniciativas orientadas pelo programa do capitalismo de Estado. Na outra, a política externa sofreu uma inflexão sutil, que acentua suas inclinações antiamericanas. A crise em Honduras, a visita do iraniano Mahmoud Ahmadinejad e a aprovação parlamentar do ingresso da Venezuela no Mercosul delineiam os contornos de um novo cenário.
Na montagem de seu primeiro governo, Lula entregou nove décimos da política econômica aos liberais ortodoxos, deixando apenas o feudo do BNDES ao grupo nacionalista ligado a Carlos Lessa, que teve vida curta. A política externa, em contraste, foi dividida equitativamente entre os ultranacionalistas, representados pelo secretário-geral do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, e a corrente majoritária petista inspirada pelo castrismo e personificada no assessor presidencial Marco Aurélio Garcia. O ministro Celso Amorim, um mestre da maleabilidade política, da dissimulação e do equívoco, ficou encarregado de administrar a coalizão de interesses, que só é estranha na superfície.
A ponte entre as visões de mundo dos dois grupos é constituída pelo antiamericanismo. A esquerda bafejada pelo castrismo norteia-se por uma caricatura da teoria do imperialismo que substitui o sistema de relações da economia mundial pelo "império americano". Os ultranacionalistas, cujas referências históricas formam um panteão que conecta Getúlio Vargas a Ernesto Geisel num mesmo "projeto nacional", encaram os EUA como a fonte principal dos valores odiosos de democracia política e liberdade econômica. Uma política externa consistente, mesmo se abominável, pode emanar de tal coalizão.
Lula, hoje todos sabem, não é uma rainha da Inglaterra. Ele arquitetou seu governo como um caleidoscópio de grupos de interesses, mas nunca renunciou ao exercício do comando efetivo. Amorim qualificou-o como o "Nosso Guia", lançando mão de um panegírico ridículo para produzir uma asserção verdadeira. O presidente, um provinciano incorrigível, jamais nutriu interesse pela política internacional, interpretando a política externa essencialmente como um instrumento para a edificação de sua imagem de estadista. No primeiro mandato, com essa finalidade, o "Guia" definiu como meta prioritária a ascensão do Brasil à condição de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU (CS).
Lula cultivou uma relação pessoal com George W. Bush e o Brasil atendeu a um pedido expresso da Casa Branca para liderar a missão da ONU no Haiti, oferecendo uma solução à crise aberta por um gesto aventureiro dos neoconservadores americanos. O Itamaraty cuidou de amenizar a crítica brasileira à geopolítica de Bush no Oriente Médio e de não fazer nenhuma menção significativa aos escândalos de direitos humanos em Abu Ghraib e Guantánamo. O presidente e o ministro Amorim alimentavam a esperança de retribuição, na forma do apoio de Washington ao ingresso definitivo do país no CS. Mas, previsivelmente, os EUA decidiram não imolar sua política para a ONU no altar da obsessão do Brasil.
No segundo mandato, em virtude do fracasso daquela pleiteação, Lula afrouxou as rédeas que cerceavam o impulso antiamericanista da coalizão de política externa. A virulência desse impulso não diminuiu, mas cresceu, com a troca de comando na Casa Branca. O aparente paradoxo decorre de um temor fundamentado: enquanto as diretrizes de Bush serviam como contraponto ideal para as manifestações de apreço do Brasil a tiranos de diversos matizes, as de Obama tendem a restaurar a credibilidade dos valores políticos defendidos pelos EUA.
A alardeada "química pessoal" entre Lula e Bush deu lugar a uma crescente hostilidade retórica contra os EUA, expressa no tom arrogante das críticas à cessão do uso das bases militares colombianas, e a gestos antes impensáveis: a conversão da embaixada hondurenha em tribuna para Manuel Zelaya, o apoio explícito à duvidosa reeleição de Ahmadinejad, a proclamação de confiança no suposto caráter pacífico do programa nuclear iraniano. Nesse curso, pouco antes da visita de Arturo Valenzuela, novo secretário assistente para as Américas, Marco Aurélio Garcia manifestou publicamente a "decepção" brasileira com a política de Obama para a América Latina - uma iniciativa que desafia as convenções da diplomacia entre países amigos.
O ato mais recente na escalada triunfante do antiamericanismo foi a admissão pelo Senado do ingresso da Venezuela no Mercosul, uma decisão de amplas repercussões, derivada de intensa pressão do Executivo sobre a sua base parlamentar. A presença de Hugo Chávez implicará a "morte" do Mercosul original, como anunciou certa vez o próprio venezuelano, e sua conversão numa plataforma de denúncia permanente do "império". Não é, obviamente, um cenário ideal para a parceria entre EUA e Brasil com a qual contava Obama na hora em que anunciou as grandes linhas de sua política latino-americana.
Política externa é a expressão internacional dos valores e dos interesses da sociedade nacional. Não é a esfera adequada para a veiculação de doutrinas partidárias ou de correntes ideológicas minoritárias. É o campo da unidade, não da confrontação interna. No primeiro mandato de Lula, a política externa brasileira oscilou no interior dos limites de uma tradição. No segundo, ela viola essa tradição, transformando-se aos poucos num pátio de folguedos de ideólogos irresponsáveis.
DEMÉTRIO MAGNOLI
Não é falsa, mas gera pouca luz a tese predominante sobre as motivações originais da política externa do governo Lula. Essa tese assegura que a política externa inaugurada na primeira posse de Lula foi concebida como uma compensação "de esquerda" à política econômica ortodoxa capitaneada por Antonio Palocci e Henrique Meirelles.
As coisas são mais complicadas. Numa ponta, a substituição de Palocci por Guido Mantega introduziu uma ambivalência na política econômica, que agora combina um núcleo ortodoxo com iniciativas orientadas pelo programa do capitalismo de Estado. Na outra, a política externa sofreu uma inflexão sutil, que acentua suas inclinações antiamericanas. A crise em Honduras, a visita do iraniano Mahmoud Ahmadinejad e a aprovação parlamentar do ingresso da Venezuela no Mercosul delineiam os contornos de um novo cenário.
Na montagem de seu primeiro governo, Lula entregou nove décimos da política econômica aos liberais ortodoxos, deixando apenas o feudo do BNDES ao grupo nacionalista ligado a Carlos Lessa, que teve vida curta. A política externa, em contraste, foi dividida equitativamente entre os ultranacionalistas, representados pelo secretário-geral do Itamaraty, Samuel Pinheiro Guimarães, e a corrente majoritária petista inspirada pelo castrismo e personificada no assessor presidencial Marco Aurélio Garcia. O ministro Celso Amorim, um mestre da maleabilidade política, da dissimulação e do equívoco, ficou encarregado de administrar a coalizão de interesses, que só é estranha na superfície.
A ponte entre as visões de mundo dos dois grupos é constituída pelo antiamericanismo. A esquerda bafejada pelo castrismo norteia-se por uma caricatura da teoria do imperialismo que substitui o sistema de relações da economia mundial pelo "império americano". Os ultranacionalistas, cujas referências históricas formam um panteão que conecta Getúlio Vargas a Ernesto Geisel num mesmo "projeto nacional", encaram os EUA como a fonte principal dos valores odiosos de democracia política e liberdade econômica. Uma política externa consistente, mesmo se abominável, pode emanar de tal coalizão.
Lula, hoje todos sabem, não é uma rainha da Inglaterra. Ele arquitetou seu governo como um caleidoscópio de grupos de interesses, mas nunca renunciou ao exercício do comando efetivo. Amorim qualificou-o como o "Nosso Guia", lançando mão de um panegírico ridículo para produzir uma asserção verdadeira. O presidente, um provinciano incorrigível, jamais nutriu interesse pela política internacional, interpretando a política externa essencialmente como um instrumento para a edificação de sua imagem de estadista. No primeiro mandato, com essa finalidade, o "Guia" definiu como meta prioritária a ascensão do Brasil à condição de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU (CS).
Lula cultivou uma relação pessoal com George W. Bush e o Brasil atendeu a um pedido expresso da Casa Branca para liderar a missão da ONU no Haiti, oferecendo uma solução à crise aberta por um gesto aventureiro dos neoconservadores americanos. O Itamaraty cuidou de amenizar a crítica brasileira à geopolítica de Bush no Oriente Médio e de não fazer nenhuma menção significativa aos escândalos de direitos humanos em Abu Ghraib e Guantánamo. O presidente e o ministro Amorim alimentavam a esperança de retribuição, na forma do apoio de Washington ao ingresso definitivo do país no CS. Mas, previsivelmente, os EUA decidiram não imolar sua política para a ONU no altar da obsessão do Brasil.
No segundo mandato, em virtude do fracasso daquela pleiteação, Lula afrouxou as rédeas que cerceavam o impulso antiamericanista da coalizão de política externa. A virulência desse impulso não diminuiu, mas cresceu, com a troca de comando na Casa Branca. O aparente paradoxo decorre de um temor fundamentado: enquanto as diretrizes de Bush serviam como contraponto ideal para as manifestações de apreço do Brasil a tiranos de diversos matizes, as de Obama tendem a restaurar a credibilidade dos valores políticos defendidos pelos EUA.
A alardeada "química pessoal" entre Lula e Bush deu lugar a uma crescente hostilidade retórica contra os EUA, expressa no tom arrogante das críticas à cessão do uso das bases militares colombianas, e a gestos antes impensáveis: a conversão da embaixada hondurenha em tribuna para Manuel Zelaya, o apoio explícito à duvidosa reeleição de Ahmadinejad, a proclamação de confiança no suposto caráter pacífico do programa nuclear iraniano. Nesse curso, pouco antes da visita de Arturo Valenzuela, novo secretário assistente para as Américas, Marco Aurélio Garcia manifestou publicamente a "decepção" brasileira com a política de Obama para a América Latina - uma iniciativa que desafia as convenções da diplomacia entre países amigos.
O ato mais recente na escalada triunfante do antiamericanismo foi a admissão pelo Senado do ingresso da Venezuela no Mercosul, uma decisão de amplas repercussões, derivada de intensa pressão do Executivo sobre a sua base parlamentar. A presença de Hugo Chávez implicará a "morte" do Mercosul original, como anunciou certa vez o próprio venezuelano, e sua conversão numa plataforma de denúncia permanente do "império". Não é, obviamente, um cenário ideal para a parceria entre EUA e Brasil com a qual contava Obama na hora em que anunciou as grandes linhas de sua política latino-americana.
Política externa é a expressão internacional dos valores e dos interesses da sociedade nacional. Não é a esfera adequada para a veiculação de doutrinas partidárias ou de correntes ideológicas minoritárias. É o campo da unidade, não da confrontação interna. No primeiro mandato de Lula, a política externa brasileira oscilou no interior dos limites de uma tradição. No segundo, ela viola essa tradição, transformando-se aos poucos num pátio de folguedos de ideólogos irresponsáveis.
"A reconquista da soberania perdida não restabelece o status quo."
Barão do Rio Branco
Barão do Rio Branco